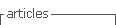Services on Demand
article
Indicators
Share
Ciências & Cognição
On-line version ISSN 1806-5821
Ciênc. cogn. vol.7 no.1 Rio de Janeiro Mar. 2006
Resenha
Ler e escrever hoje é como antigamente?
Is read and write today like in the past?
Silvana Arend
Universidade de Santa Cruz do Sul (UNISC), Sana Cruz do Sul, Rio Grande do Sul, Brasil
 Leitura e escrita de adolescentes na internet e na escola. (2005). Freitas, M.T.A. e Costa, S.R. (Orgs.). Belo Horizonte: Editora Autêntica, ISBN 8575261568, 138 pág..
Leitura e escrita de adolescentes na internet e na escola. (2005). Freitas, M.T.A. e Costa, S.R. (Orgs.). Belo Horizonte: Editora Autêntica, ISBN 8575261568, 138 pág..
Palavras-chave: ensino; adolescentes; internet; Vygotsky; Bakhtin.
Os organizadores expõem na apresentação da obra o foco de suas investi-gações: "compreender como se constituem, na contemporaneidade, a leitura e a escrita de crianças e adolescentes" (p. 7), e comen-tam as diferentes etapas em que se desdobraram suas pesquisas ao longo desses anos - desde conhecer o que lêem e escrevem professores do Ensino Fundamental, comparar as práticas de leitura e de escrita na Internet e na escola, até entrar em salas de chat e listas de discussão para observar as produções de escrita nesses espaços. As observações, conclusões e também novos questionamentos que surgiram a partir dessas pesquisas resultam agora nesse livro, formado por nove artigos distribuídos em 138 páginas, lançado em um momento em que a inclusão digital ainda não é uma realidade para todos. Estima-se que apenas 11,5% dos brasileiros têm acesso à Internet em suas casas1. Ainda assim, o uso das ferramentas da web vem crescendo a cada ano, especialmente através do acesso gratuito possibilitado por escolas, bibliotecas públicas e telecentros espalhados por todo país. Embora ainda poucos acessem a rede mundial de computadores em casa, cada vez menos adolescentes e crianças nunca tiveram acesso à Internet. Essa "democra-tização" do uso dos computadores interliga-dos à web torna as discussões desse livro extremamente contemporâneas e importantes para profissionais da educação como professores, estudantes dos cursos de licenciatura que estão se preparando para as salas de aula, e também - apesar de não haver referências explícitas ou um trabalho especí-fico - a pais de adolescentes e crianças interessados (e preocupados) em acompanhar o impacto das novas tecnologias nas produções de escrita e de leitura de seus filhos.
O artigo que abre o livro, de autoria da organizadora Maria Teresa de Assunção Freitas, trata de abordar os processos de mudança da escrita e da leitura a partir de sua historicidade. A autora traça um paralelo entre o impacto do surgimento da escrita numa cultura oral, há 6000 anos atrás, e o impacto da tecnologia sobre as gerações que não nasceram com sua presença já estabelecida. Ambas as invenções influenciaram a vida, os discursos e o modo de pensar das pessoas, mas há uma grande diferença entre elas: enquanto a escrita e a subseqüente impressão materializaram o conhecimento, tornando-o mais estabilizado, palpável e disponível em suportes físicos, as tecnologias da web promovem uma descentralização do saber. O conhecimento hoje está também no ciberespaço, ou em qualquer outro lugar que seja virtual. Poderia-se então falar em uma complexificação dos modos de gestão do conhecimento. Oralidade, escrita e informá-tica co-existem, bem ou mal. Não há uma substituição de um por outro, como se o anterior não fosse tão importante ou evoluído quanto o subseqüente. Baseando-se nesse argumento a autora busca o exemplo de Platão - que encarou negativamente o surgimento da escrita, alegando que essa diminuiria a capacidade de memória presente na oralidade, para sugerir que não devemos agir da mesma forma diante das novas tecnologias. Buscar o conhecimento que leva à compreensão das possibilidades das tecnologias é sugerido como necessário, já que o ciberespaço seria um dos futuros da escrita e da leitura. Esse primeiro capítulo merece destaque por ser incentivador e esclarecedor da necessidade dessa busca.
O segundo artigo, escrito também por outro dos organizadores do livro - Sérgio Roberto Costa, pretende analisar as implicações sociais, culturais, psicológicas, (meta)/ cognitivas e (meta)/lingüísticas décor-rentes da escrita e leitura de adolescentes no ciberespaço. Dentro dessa proposta ambiciosa, o autor propõe inicialmente um resgate dos primeiros suportes para materiali-zação da escrita como a argila, o pergaminho, os livros, e, entre esses, os primeiros hipertextos: as enciclopédias. Seguindo seu resgate histórico, Costa destaca que, a partir do telefone, e, principalmente, da Internet, há um retorno à oralização das relações sociais. Referenciando Pierre Lévy continuamente, o artigo convida a questionar o papel do leitor diante de um hipertexto. As idéias de autoria coletiva e de um papel mais ativo do leitor são enaltecidas no texto "desterritorializado" que seria o hipertexto, resultando na quebra de fronteiras entre escrita e leitura. Como conseqüência dessa quebra, surgiriam novos gêneros textuais. Home-pages, chats, foruns e e-mails apresentam modificações no código alfabético e na escrita oficial, um novo vocabulário, uma nova sintaxe. Costa defende toda a transgressão dos novos gêneros textuais como uma tentativa de alcançar a linguagem paralingüística não-verbal como gestos, mímica e entonação no ciberespaço. São citados pelo autor como exemplos disso os emoticons, abreviações, neologismos a partir de uma língua estrangeira, letras maiúsculas para gritar, uso excessivo de sinais de pontuação e os recursos multimídias, dentre outros. Como conclusão temos o posicio-namento do autor a favor de um contato de crianças e adolescentes com as tecnologias digitais o mais cedo possível, pois "mais se desenvolverão em suas capacidades motoras, lingüísticas e cognitivas" (p. 26).
Os dois artigos comentados até o momento têm como ponto central situar historicamente o leitor, levando-o a refletir sobre como o hipertexto entrou em nossas vidas e quais são suas conseqüências hoje e no futuro. Ambos os textos têm uma escrita fluída, de fácil assimilação pelo leitor estando muito sintonizados com a proposta de esclarecimento que têm o livro, e relacionam-se intrinsecamente com o terceiro e o quarto artigos, novamente de Maria Teresa de Assunção Freitas e Sérgio Roberto Costa, consecutivamente. Os organizadores do livro buscam aprofundar questões como: de que maneira as mudanças trazidas pela escrita e leitura na Internet afetariam a cognição de seus usuários? Maria Teresa, especificamente, busca em seu segundo trabalho no livro responder até que ponto a escrita afeta os processos do pensamento. Apóia-se em Goody, Greennfield, Havelock, McLuhan, Stock, Lévy e Vygotsky para considerar que signos permitem transformar e conhecer o mundo, comunicar experiências e desenvolver novas funções psicológicas. Os estudos de Luria e Vygotsky apóiam a autora no ponto de vista de que a escrita modifica as pessoas internamente e que o mínimo grau de cultura escrita faz uma grande diferença nos processos mentais, já que alfabetizados são capazes de adotar uma abordagem abstrata, ao contrário das pessoas sem escrita. Para trazer à tona especificamente a questão do hiper-texto como influência na cognição, a autora apresenta brevemente algumas idéias de Bakhtin como a noção de autoria coletiva e dialogicidade textual - referência recorrente para as próximas discussões da obra. Enquanto isso, no capítulo quatro, do também organizador Sérgio Roberto da Costa, percebemos um trabalho que descreve minimamente o hipertexto: características como não-linearidade, volatibilidade, topo-grafia, fragmentariedade, acessabilidade ilimitada, multissemiose, interatividade e iteratividade, são descritas didaticamente para um possível leitor não totalmente familiarizado com o texto virtual. Percebe-se que os quatro primeiros artigos são explicativos e introdutórios para os trabalhos seguintes que analisam diferentes gêneros textuais resultantes do hipertexto como o chat e as listas de discussão, por exemplo. Seguem agora, portanto, textos que apresentam os resultados empíricos do grupo de pesquisa e que justificam o título do livro que, até então, não havia entrado realmente na questão da escrita de adolescentes.
"O Chat como produção de linguagem", de Alessandra Sexto Bernardes e Paula M. Teixeira Vieira, é o quinto artigo do livro e é um texto resultante de uma pesquisa de campo. As produções de escrita na Internet em sessões de bate-papo durante 6 meses no ano 2000 possibilitaram uma análise feita numa situação real e um artigo rico em observações. As autoras primeiramente caracterizaram os chats explicando os termos necessários para entender seu funcionamento como "nickname", "channel", "server", etc. É salientada a necessidade de habilidades técnicas, além de conhecimentos paralin-güísticos e também sócio-culturais para que a conversa se desenvolva de forma bem-sucedida. Paralelos entre a teoria de Bakhtin e as características dos chats são traçados para entender-se a real natureza da linguagem enquanto fenômeno sócio-ideológico. As autoras explicam que, em seu tempo, Bakhtin teceu críticas às correntes lingüísticas que surgiam - o Objetivismo Abstrato e o Subjetivismo Idealista, por essas reduzirem a língua a um sistema abstrato de normas ou verem a língua como uma expressão da realidade interna. Também deixam clara a crítica de Bakhtin: "para ele, ambas as correntes não atingiam o verdadeiro núcleo da realidade lingüística: a interação verbal" (p. 48). Considerando que a palavra não pode ser vista separada do fluxo da comunicação verbal e que a interação verbal é de natureza essencialmente dialógica, esse artigo apóia-se nas teorias bakhtinianas para entender o chat como produção de linguagem oral, mas com o suporte da escrita. Da mesma forma, esse trabalho faz menção a outros pontos importantes desenvolvidos por Bakhtin há tantos anos antes para entender esse novo gênero do discurso, como por exemplo a importância da relação do interlocutor com um auditório, e aspectos extraverbais de uma enunciação como o espaço e o tempo no qual ocorre a enunciação; o objeto ou o tema sobre o qual ocorre a enunciação, e a valoração, ou a atitude dos falantes diante do que ocorre. Todos esses aspectos necessários para a efetivação de uma verdadeira interação comunicativa suscitam questionamentos e análises sobre essa nova forma de ler e escrever baseada na web. Análises essas necessárias pois "refletir sobre uma possível apropriação desse novo gênero da contemporaneidade pelo contexto do ensino, não é, pois, tarefa para um futuro distante" (p. 62).
Ainda analisando a produção discursiva nas salas de bate-papo, temos o sexto artigo da obra, de autoria dos professores Ana Paula M. S. Pereira e Mirtes Zoé da Silva Moura. Novamente tem-se uma série de explicações sobre o funcionamento de uma sala de chat prevendo um possível desconhecimento por parte do leitor do artigo. Bakhtin ancora a teoria enunciativa como no trabalho anterior, mas dessa vez tem-se mais autores contemporâneos como Marcuschi, Rojo, Ong e Olson como referencial teórico, sendo que o grande ponto em comum entre esses teóricos é o fato de todos abordarem a questão da oralidade e da escrita sem dicotomias, exatamente como acontece nas salas de chat. Esses autores citados valorizam o objetivo do discurso, o contexto social de produção e a interseção entre o oral e o escrito, e essa interação acontece de forma absoluta na Internet onde as fronteiras entre a linguagem oral e a linguagem escrita se dissolvem em nome de uma comunicação viva. As pesquisadoras, autoras desse artigo, tornaram-se internautas, abrindo mão de suas práticas de escrita normalmente guiadas pela gramática normativa, para vivenciarem o processo discursivo das salas de bate-papo. Foram observadas e comentadas todas as tentativas de aproximar a escrita dos internautas participantes das salas com a comunicação oral do dia-a-dia, já que a intenção desses é interagir, conversar. Recursos como pontos de interrogação, de exclamação, reticências e alongamentos vocálicos são usados em excesso para dotar a escrita de marcas da oralidade. Letras maiúsculas representam o grito do interlocutor, enquanto os emoticons represen-tam a fala do corpo através de sorrisos, piscadas de olho, levantamento de sobran-celhas, etc. A busca é pela representação através do teclado das manifestações que ocorrem numa conversação face-a-face. E a rapidez da oralidade é buscada através das abreviações na escrita, supressão de sinais gráficos como til e acentos. Trata-se, sem dúvida, de um novo estilo da língua resultante das novas tecnologias da informação e da comunicação, que refletem o momento em que vivemos: todos sentimos necessidade de comunicação e as salas de bate-papo estão à disposição para aqueles que se dispuserem a transgredir as normas da escrita formal e quiserem descobrir que hoje é possível "falar escrevendo".
O gênero "listas de discussão" é anali-sado, enquanto uma nova forma de interação na formação da subjetividade, pelas autoras Juliana Gervason Defillippo, Olívia Paiva Fernandes e Patrícia Vale da Cunha no sétimo artigo da obra. Trata-se de listas de discussões que têm como temáticas dois seriados americanos, Friends e Charmed. Após explicação do funcionamento dessa possibili-dade de uso da web, as autoras buscam referencial em Bakhtin para caracterizar a relevância da existência do outro em uma lista de discussão, mostrando o caráter dialógico desse gênero. Também o interesse por seriados americanos, bem como pela vida particular dos atores que os interpretam, como mostrado nas interações com os jovens da pesquisa, deixa claro a interferência de uma globalização de interesses, valores e conhecimentos na formação da subjetividade desses jovens. Vygotsky é referência no momento em que as autoras questionam como o meio social está interferindo nesses sujeitos. Apesar do texto não trazer esclarecimentos maiores sobre as idéias do teórico russo - talvez partindo do pressuposto de que Vygotsky é nome bastante conhecido no meio acadêmico e de que não fosse necessário apresentar as linhas condutoras de suas pesquisas, esse artigo constitui uma análise importante em tempos em que professores buscam aproximar-se dos interesses de seus alunos para promover um maior conhecimento mútuo e tornar mais profícuo o aprendizado da sala de aula.
Juliana Gervason Defillippo, junta-mente com Patrícia Vale da Cunha, escrevem "Por que nickname escreve mais que realname? Uma reflexão sobre gêneros do discurso". Trata-se de uma comparação entre as produções escritas da escola e da Internet, que tem como referencial teórico Bakhtin e Vygotsky, na busca de compreender as produções escritas de adolescentes nesses dois contextos diferentes. As autoras defendem que o letramento digital alcança objetivos que as atividades em sala de aula não alcançam por não se relacionarem com os interesses e realidade dos alunos. Apostam em textos digitais para alcançar "um impacto sempre buscado pelos professores em sala de aula, mas adormecido há anos nas desestimulantes redações de temas abstratos, desvinculados da realidade do aluno ou nas vagas interpretações de texto das provas de português" (p. 98). Como argumento para isso diferenciam que, na web, escreve-se para um "outro" real, que dialoga verdadeiramente com seu interlocutor e gerando interações verbais e escritas com significado. Já na escola ocorreria o contrário: as redações escolares partiriam de situações artificiais resultando em uma escrita cujo único objetivo é agradar o professor avaliador. As autoras falam ainda em uma ênfase na forma dada pela escola enquanto na Internet a ênfase estaria no conteúdo. Esse argumento mostra-se consistente ao analisarmos os exemplos mal-sucedidos de ensino de leitura e escrita centrados na reprodução e na forma (alguns deles colocados no próprio artigo, e outros tantos que vemos no dia-a-dia como professores). Por outro lado, exemplos bem-sucedidos também são realidade, mas acabaram não sendo citados pelas autoras, o que desperta uma certa frustração no leitor ao final do artigo.
O último artigo intitula-se "A pesquisa escolar em tempos de Internet". Alessandra Sexto Bernardes e Olívia Paiva Fernandes discutem a situação que se criou em torno da pesquisa escolar em tempos de acesso fácil às informações através da rede mundial de computadores. Enquanto professores reclamam que os alunos nem sequer precisam se dirigir às bibliotecas e que esses chegam até mesmo a considerar a impressão de uma página da Internet uma pesquisa, alunos acreditam que a Internet é um grande facilitador para a realização da pesquisa e que só há aspectos positivos na sua utilização. Bakhtin é, uma vez mais, a referência utilizada na tentativa de buscar uma solução para essa problemática. "Segundo seus pressupostos, todo texto, ao ser reescrito pelo leitor, adquire, no momento mesmo de sua (re)produção, novos sentidos não-reiteráveis" (p.131). A proposta (ingênua) do artigo é que consideremos, professores e alunos, o conceito de co-autoria. Levando em conta que a noção de autoria e propriedade sobre o texto está sendo transformada pela Internet, sugere-se que os professores considerem e trabalhem com seus alunos a idéia de que a pesquisa deverá retratar o percurso de suas leituras na rede e que as produções escritas construídas pelos alunos sejam uma co-autoria com outros autores. Infelizmente, o artigo não traz elementos teóricos suficientes para justificar esse posicionamento e não consegue transmitir segurança para o leitor que eventualmente esteja enfrentando essa problemática em suas salas de aula.
Cabe ao final da análise de cada um dos artigos evidenciar uma recorrente preocupação pedagógica dos autores ao longo de toda a obra. Por tratar-se de professores do ensino superior, a maioria deles ligados à área da educação, e com responsabilidade na formação de novos professores, não é por acaso que o principal público-alvo do livro sejam os profissionais que já estão atuando, ou se preparam para a atuação nas salas de aula. É notável o engajamento dos autores em alertar seus leitores para tantas mudanças decorrentes do uso das novas tecnologias, também na escola. Enquanto muitos professores não têm contato algum com a web, ou temem seu uso e conseqüências, nossos estudantes estão vivenciando cada vez mais a Internet em suas vidas. Aproximar a escola dos interesses e experiências dos alunos é reaproximar os alunos da sala de aula. A escola não pode mais ignorar todas as mudanças sociais, culturais e comportamentais que a nova sociedade digital está enfrentando. É por isso que "Leitura e escrita de adolescentes na internet e na escola" é um livro recomendável e explicativo para aqueles professores que ainda não estão inseridos no universo on-line, e é também questionador para aqueles que estão assistindo as mudanças dentro e fora da sala de aula, mas não sabem, exatamente, qual é o novo papel do educador diante desse novo mundo de possibilidades.
É nesse sentido que há uma observação a ser feita. As discussões e observações dos artigos realmente despertam questionamentos nos seus leitores de como deve agir / reagir o educador e a escola do século XXI. Fica muito claro que já não se pode ignorar a influência da web sobre crianças e adolescentes, mas, ao mesmo tempo, faltam sugestões práticas de como esses educadores podem aproximar da sala de aula os benefícios das novas tecnologias. Especialmente os artigos de número sete, oito e nove falham nesse sentido. Ambos analisam onde estaria o problema - especificamente a distância entre os trabalhos escolares e a nova realidade dos alunos com o advento da Internet, mas deixam de indicar possibilidades de atividades e ações para contornar o problema, o que acaba sendo uma oportunidade perdida de um enriquecimento ainda maior da obra.
Nota-se também no livro a ausência de referências voltadas especificamente para os resultados de uma escrita que já não obedece a padrões de pontuação ou acentuação, como acontece nas salas de chat, por exemplo. Essa é uma questão bem atual, tanto quanto a obra recém-lançada, e que certamente cabe no corpus das discussões desse grupo de investigação, mas que não foi citada como uma conseqüência das mudanças vivenciadas pela presença marcante da web na escrita e leitura de adolescentes.
Por fim, é interessante observar a importância de teóricos não-contemporâneos para esse grupo de pesquisadores, como Bakhtin (1895-1975) e Vygotsky (1896-1934), principalmente. Suas teorias são referenciadas constantemente para a compre-ensão dos processos de mudança a que estão submetidos a leitura, a escrita e a própria identidade dos sujeitos vivenciando a Internet. Por terem desenvolvido suas teorias tantos anos antes do advento da rede mundial de computadores, mas essas servirem de suporte de forma tão inteligente e apropriada às experiências que agora vivenciamos, o livro referencia, de forma justa, seus nomes como brilhantes teóricos atemporais, o que é, no mínimo, uma excelente razão para aprofundarmos nossos conhecimentos sobre esses teóricos. Se o livro apenas despertasse em seus leitores o desejo ou a necessidade de conhecer melhor as obras de Vygotsky e Bakhtin, ele já teria concretizado um grande passo em favor do enriquecimento de seus leitores.
Notas
S. Arend é graduada em Letras (UNISC) e Mestranda em Letras (UNISC). E-mail para correspondência: s_arend@hotmail.com.
(1) Fonte: NielsenNetratings / Compilação www.e-commerce.org.br - Os dados referem-se a acesso doméstico.