Serviços Personalizados
artigo
Indicadores
Compartilhar
Psicologia USP
versão On-line ISSN 1678-5177
Psicol. USP v.4 n.1-2 São Paulo 1993
ARTIGOS ORIGINAIS
"Fazer na cabeça": análise conceitual, demonstrações empíricas e considerações teóricas1
"Doing in the head": conceptual analysis, empirical demonstrations and theoretical considerations
Jorge M. de Oliveira-Castro
Instituto de Psicologia - Universidade de Brasília
RESUMO
O conceito 'fazer na cabeça' na linguagem cotidiana indica que seu uso: I) é metafórico; II) negativo, pois indica que certos comportamentos deixam de ocorrer; e III) não caracteriza necessariamente atividades 'mentais'. As teorias psicológicas têm interpretado o conceito positivamente, como se este indicasse que alguma coisa ocorre, só que em outro lugar ou de outra forma. Propõe-se que o conceito seja interpretado negativamente, através da investigação das condições necessárias e suficientes para a diminuição de 'respostas intermediárias'. Os resultados de três experimentos demonstram que as respostas intermediárias diminuem, de maneira ordenada, com o aumento de tentativas. Os conceitos de 'redução no atraso de reforço', 'transferência de estímulo' e 'níveis de respostas' são sugeridos para explicar a diminuição de respostas intermediárias.
Descritores: Memória. Behaviorismo Aprendizagem verbal.
ABSTRACT
The analysis of the concept "do it in head" in everyday language indicates that its use: i) is metaphoric, because is does not refer to anything in the body; II) is negative, because it indicates that certain activities do not occur; and III) does not necessarily characterize "mental" activities. The psychological theories in general have interpreted the concept positively, as if this indicated that something happens, but somewhere else or in some other way. It is proposed that the concept be interpreted negatively, by investigating the necessary and sufficient conditions for the reduction of some activities ("intermediate responses"). The results of three experiments show that intermediate responses diminish in an orderly way with increasing trials. The concepts of "reduction in reinforcement delay", "transference of stimulus" and "levels of response" are sugested to explain a reduction of intermediate responses.
Index terms: Memory. Behaviorism. Verbal learning.
Quando resolvemos problemas aritméticos mentalmente é comum afirmarmos que os números trabalhados estavam 'na cabeça' e não no papel e que as contas foram 'feitas na cabeça'. Quando ouvimos uma determinada música por muito tempo podemos afirmar, mais tarde, que ainda temos a música 'tocando na cabeça'. Também é 'na cabeça' que contamos os convidados para jantar, que guardamos números de telefone e as nossas poesias preferidas. Analisando a lógica do uso da expressão 'na minha cabeça' ('in my head') na linguagem cotidiana, Ryle (1949) ressaltou três importantes características de seu uso. Em primeiro lugar, o conceito é usado na linguagem cotidiana de forma metafórica, isto é, ninguém realmente espera poder radiografar números quando dizemos estar 'fazendo contas de cabeça', como tampouco escutar a música que dizemos 'ter na cabeça' com o auxílio de um estetoscópio. Ryle especulou, inclusive, sobre as possíveis origens dessa metáfora, mas, como ele mesmo reconheceu, uma " excursão em filologia" não parece ser essencial para o esclarecimento da lógica do uso do conceito (p.39).
A segunda característica do uso da expressão, esta menos óbvia que a primeira, é "(. . .) uma função negativa indispensável" (p.36). Ryle utiliza como exemplo o caso da música: quando o barulho das rodas do trem fazem tocar uma música 'na minha cabeça', o barulho das rodas é ouvido pelos outros passageiros enquanto a música não o é. O barulho das rodas enche o vagão, enquanto a música 'na minha cabeça' não enche compartimento algum.
Ryle (1949) ressalta ainda que a expressão 'na minha cabeça' não pode ser identificada, na linguagem cotidiana, com a expressão 'mental'. O fato de um menino fazer os cálculos 'na cabeça' e outro fazê-los escrevendo no papel não faz com que o desempenho do primeiro seja um exercício de uma faculdade mental, no sentido normal de 'mental', e o do segundo não o seja.
Além disso o fato de uma pessoa dizer coisas para si mesma na sua cabeça não implica que ela esteja pensando. Ela pode balbuciar delirantemente, (...), assim como ela pode estar falando alto (...). O que faz com que uma operação verbal seja um exercício do intelecto é independente do que faz com que ela seja pública ou privada (p.35).
Com base nesta análise apresentada por Ryle, Oliveira-Castro (1992) ressaltou algumas da implicações da mesma para questões teóricas e empíricas em psicologia. A função negativa do conceito "fazer na cabeça" ou " fazer mentalmente" não parece ter sido considerada pelas teorias psicológicas. Quando dizemos, na linguagem cotidiana, que o menino resolveu os problemas aritméticos 'mentalmente' ou 'na cabeça', estamos afirmando que ele resolveu os problemas sem escrever ou olhar os números no papel, no quadro negro ou qualquer outro lugar; tampouco ele falou ou ouviu os números. As expressões 'na cabeça' ou 'mentalmente', neste contexto, têm a função de afirmar que algo não ocorreu. O mesmo acontece quando dizemos que temos o número de telefone guardado 'na cabeça'; somos capazes de escrever, dizer ou discar o número sem consultar a agenda, a lista telefônica, ou outras pessoas. Na linguagem cotidiana, portanto, uma das funções do conceito é distinguir entre 'resolver os problemas aritméticos escrevendo ou falando' e 'resolver os problemas aritméticos sem escrever ou falar', ou entre 'discar o número consultando a agenda' e 'discar o número sem consultar'. Esta distinção parece ter muitas utilidades na rotina das pessoas, pois parece que nos casos onde os problemas são resolvidos ou o número é discado 'sem escrever ou consultar' os desempenhos são mais difíceis, mais rápidos e menos dependentes de aspectos do ambiente, como lápis e papel ou lista telefônica, do que nos casos onde 'escrever ou consultar' ocorrem. Porém, não cabe aqui avaliar a utilidade das distinções existentes na linguagem cotidiana, pois pode-se sempre afirmar tautologicamente que, se a distinção não tivesse utilidade, ela não existiria. O importante é reconhecer que a distinção é feita.
As teorias psicológicas, por sua vez, têm interpretado o conceito de forma diferente. Ao invés de interpretar o conceito como negativo, indicando que alguma coisa não ocorre como, por exemplo, 'escrever os números' ou 'consultar a agenda', o conceito é interpretado positivamente, indicando que alguma coisa ocorre, só que ocorre em outro lugar ou de outra forma. Ou seja, de acordo com as teorias, a pessoa continuaria 'vendo' e 'escrevendo' os números em um outro lugar, na mente, ou de outra forma, abreviadamente ou em escala pequena. O exemplo mais típico deste tipo de interpretação positiva do conceito pode ser encontrado nas teorias geralmente denominadas 'cognitivas', as quais têm utilizado, mais recentemente, o modelo do computador. A mente funcionaria como um computador, processando informações, de tal maneira que os números, do exemplo citado acima, seriam armazenados, procurados e manipulados na mente (e.g., Anderson, 1986). Portanto, 'resolver problemas mentalmente', de acordo com este tipo de teoria, não estaria indicando que a pessoa resolveu os problemas sem escrever ou ver os números. A pessoa estaria escrevendo e vendo os números, só que estes 'escrever' e 'ver' seriam de natureza mental, e ocorreriam em um outro lugar, a mente. Não é difícil concluir que neste tipo de teoria, as expressões 'escrever', 'ver', 'números', 'lugar', 'procurar', 'armazenar' e 'manipular' estão sendo usados em sentido metafórico, propondo, portanto, substituir a metáfora da linguagem cotidiana por metáforas mais sofisticadas e detalhadas. A 'memória', interpretada como o 'lugar' para onde as coisas memorizadas vão, já foi subdividida em curta, longa, episódica, semântica, de reconhecimento, de lembrança, autobiográfica, automática, controlada, auditiva, visual, de rostos, de figuras, de palavras, de sentenças, de estórias, entre outras (cf., Horton & Mills, 1984; Johnson & Hasher, 1987). A possibilidade de tal 'lugar' ser identificado com o cérebro e deixar um dia de ser uma metáfora será discutida mais adiante. O ponto que cabe aqui ressaltar é que o conceito, nessas teorias, perdeu a sua função negativa e assumiu funções positivas.
As teorias freqüentemente denominadas 'behavioristas' também interpretam o conceito de forma positiva, apesar de fazê-lo de uma maneira diferente. Watson (1963), considerado por muitos o fundador do behaviorismo, propôs que o pensamento pode ser compreendido como fala internalizada ou subvocal. No caso do menino resolvendo os problemas aritméticos 'mentalmente', de acordo com esta interpretação, o menino estaria vendo e escrevendo (ou falando) os números internamente, e isto se torna possível através do processo de condicionamento que faz com que o comportamento de ler em voz alta, por exemplo, seja desencorajado e, conseqüentemente, abreviado. A posição defendida por Skinner (1982) é bastante semelhante, pois 'pensamento' passa a ser interpretado como um comportamento que ocorre em escala tão pequena que não pode ser detectado por outros (p.92). Ambas as teorias rejeitam qualquer status explicativo especial para os comportamentos ou estímulos que ocorrem internamente (ou encobertamente), pois eles devem ser tratados como qualquer outro tipo de comportamento, eles mesmos precisam ser explicados. No que diz respeito às possíveis relações entre estes eventos 'encobertos' e o funcionamento do sistema nervoso, aposição de Skinner é um pouco ambígua. Pois apesar de afirmar que existe uma lacuna a ser preenchida pelas informações advindas da neurofisiologia (cf., Skinner, 1953), o autor questiona a utilidade deste tipo de informação para o controle e predição do comportamento. De qualquer maneira, o conceito 'fazer mentalmente' é interpretado por tais teorias como assumindo uma função positiva, isto é, afirmando que alguns eventos ocorrem internamente.
O mesmo acontece nas principais teorias de desenvolvimento. Enquanto Vygotsky (1986) propôs que o pensamento se desenvolve a partir da interiorização da fala, que passa primeiro por um período de independência dos adultos através da fala egocêntrica, Piaget defendeu que a característica essencial do pensamento, o raciocínio lógico-matemático, emerge a partir de ações, e se desenvolve em estágios progressivos de estruturas cognitivas (para interessantes discussões sobre o tema, ver Hickmann, 1987).
Portanto, em todos os tipos de teorias aqui apresentadas sucintamente, o conceito 'fazer na cabeça' é utilizado de maneira diferente do seu uso na linguagem cotidiana. Para discutir essa divergência de uso talvez seja interessante analisar um exemplo. Qual é a diferença entre: a) 'O menino resolveu os problemas aritméticos mentalmente'; e b) 'O menino resolveu os problemas aritméticos no papel'? De acordo com o uso cotidiano do conceito, poderíamos afirmar que algumas coisas ocorrem em b que não ocorrem em a, isto é, enquanto o menino em b escreveu no papel os passos das operações matemáticas (note que o detalhamento do que ele escreveu pode variar muito), ele não fez nada disso em a. De acordo com o uso dado ao conceito nas teorias psicológicas, poderíamos afirmar que tudo que ocorreu em b ocorreu também em a, sendo que a diferença entre a e b se baseia no fato de que algumas coisas que ocorreram em b publicamente ocorreram em a internamente ou encobertamente. Isto é, as ocorrências foram as mesmas em a e 6, só que algumas coisas que ocorreram em a não puderam ser observadas (pelo menos por terceiros, pois todas as teorias assumem que a própria pessoa pode observar). Mas que tipo de coisas são essas que ocorreram em a e ninguém, a não ser talvez o menino, pode observar? Aqui as teorias discordam entre si fervorosamente há pelo menos um século. Devem essas coisas ser tratadas como comportamentos? Como processos cognitivos? Como funcionamento de neurônios? Como redes neurais? Como estímulos? Como causas das coisas que observamos? Como efeito do que se observa? Como imagens? Como palavras? Diferentes versões das discussões entre Wundt e Külpe sobre os famosos 'pensamentos sem imagens' parecem estar sempre presentes.
Oliveira-Castro (1992) sugeriu que se mantivesse a função negativa do conceito nas teorias psicológicas, o que acarretaria em mudanças nas perguntas de pesquisa. Reconhecendo que a diferença entre a e b, no exemplo mencionado acima, se baseia na não ocorrência em a de comportamentos que ocorrem em b, as questões sobre o destino, a natureza e o funcionamento dessas 'coisas', que ocorrem em a internamente, deixariam de ser pertinentes. Pois se as 'coisas' deixam de ocorrer elas não vão a lugar nenhum. Perguntar para onde elas foram ou em que se transformaram parece ser um mistério filosófico talvez fruto de confusões conceituais. Se uma reunião de colegiado, marcada para quinta-feira às 14 horas, deixa de ocorrer, ninguém pergunta para onde ela foi ou em que ela se transformou. Pergunta-se, isto sim, se a reunião foi cancelada ou adiada e, se adiada, para quando. Mas no caso de se manter a função negativa do conceito, quais seriam as perguntas de pesquisa relevantes? Claro que muitas perguntas podem ser relevantes, por exemplo: Como é possível a alguém resolver problemas aritméticos sem escrever os passos das operações? Em outras palavras, quais são as condições necessárias e suficientes para que alguém resolva os problemas sem escrever? Antes de discutir mais detalhadamente os tipos de procedimentos e questões empíricas decorrentes desta análise, talvez seja conveniente discutir um pouco a adequação do nível de análise que está sendo proposta.
Nível de explicação
Considerem, por um instante, os dois exemplos seguintes: a) Alguém pergunta a João o número de telefone de Maria, João olha o número na sua agenda e diz o número; e b) Alguém pergunta a João o número de telefone de Maria e João diz o número. No caso exemplificado em b dizemos que João memorizou o número ou 'tem o número guardado na cabeça' e, como discutido anteriormente, muitas teorias defendem a necessidade de utilizar conceitos teóricos, que se referem ao número ou alguma outra coisa 'dentro' de João, de tal sorte a fazer com que ambos os casos sejam semelhantes, mudando apenas a 'localização' do número ou alguma outra coisa: em a o número está escrito na agenda e em b o número ou alguma outra coisa estaria de alguma maneira 'dentro' de João. De acordo com o uso negativo do conceito 'fazer na cabeça' a diferença entre a e b se baseia no fato de João ter olhado a agenda em a e não tê-lo feito em b. Mas então é só isto? Esta análise não estaria deixando de lado alguma coisa especial e diferente que acontece em b e não em a? 'Sim e não', talvez fosse a resposta mais adequada. Sim, porque há sem sombra de dúvida diferenças entre a e b, relevantes para uma teoria psicológica, além do fato de João não olhar a agenda em b. Não, porque estas diferenças não estão baseadas necessariamente em coisas que ocorrem 'dentro' de João em b que não ocorrem em a.
Uma das diferenças entre a e b diz respeito ao tempo que decorre entre ver o número e dizê-lo. Nos casos semelhantes ao exemplo a este intervalo de tempo é geralmente mais curto, isto é, João olha o número na agenda e diz o número logo em seguida. E parece haver uma tendência bastante geral nas ciências de propor tanto mais conceitos teóricos, para fazer a mediação entre dois eventos supostamente relacionados, quanto maior for a distância e/ou o intervalo de tempo entre os eventos. Staddon (1983) chegou mesmo a propor que:
mantidas constantes as outras condições, a probabilidade de que um determinado evento ambiental seja, de fato, causado por algum evento antecedente relaciona-se obviamente ao intervalo decorrido entre os dois eventos. Quanto mais longo o inter valo, maior a probabilidade de que outros eventos intervenientes tenham desempenhado um papel e menor a probabilidade, portanto, de que o primeiro evento tenha determinado a ocorrência do segundo (p.33).
Como bem ressaltado por Ades (1980), esta afirmação pode assumir funções heurísticas, porém representa também uma crença do autor sobre as estruturas dos eventos reais. Crença esta, por sinal, insustentável logicamente, pois pode sempre ser argumentado que há eventos 'mediadores' entre quaisquer dois eventos (cf., Ades, 1980), e, considerando que os intervalos de tempo podem teoricamente ser subdivididos infinitamente, a probabilidade de outros eventos intervenientes ocorrerem durante um intervalo de dois segundos não é diferente da probabilidade de eventos ocorrerem durante intervalos de dois anos. Voltando ao nosso exemplo, quando em a João olha o número na agenda e diz o número, um intervalo de tempo decorre entre o primeiro e o segundo evento e, no entanto, nem todas as teorias, neste tipo de caso, vêm a necessidade de inferir eventos 'mediadores' (ao contrário dos casos de 'pensamento'). Na teoria de Skinner, por exemplo, o número na agenda seria provavelmente interpretado como um estímulo discriminativo que controla, devido a um treino prévio, a resposta de dizer o número (resposta 'textual'; cf., Skinner, 1957). Não haveria, neste caso, de acordo com a teoria, comportamentos ou estímulos 'encobertos'. Já no caso de alguém que descreve para um amigo a cidade de Veneza, não estando lá, a pessoa estaria 'vendo' Veneza na sua ausência, pois o comportamento de 'ver Veneza' foi provavelmente reforçado e por isso pode ocorrer longe de Veneza (cf., Skinner, 1974; para uma discussão deste tópico, ver Harzem & Miles, 1978). Por que, no caso de João, a teoria não afirma que João 'vê' o número, entre olhar a agenda e dizer o número? Parece que esta diferença de tratamento teórico se deve, ao menos em parte, ao intervalo de tempo decorrido entre os eventos. Teorias cognitivas contemporâneas, por outro lado, já proporiam a mediação entre olhar a agenda e dizer o número, provavelmente utilizando o conceito de 'memória a curto prazo' (ou working memory, cf., Anderson, 1986). Porém, estas teorias não podem servir como ilustração da tendência de propor conceitos teóricos mediadores dependendo do tamanho do intervalo de tempo entre os eventos, porque a necessidade de conceitos mediadores parece ser uma premissa inicial de tais teorias, as quais afirmam estar interessadas em investigar 'processos cognitivos'. Ou seja, conceitos mediadores serão propostos, independentemente dos fenômenos investigados, e o objetivo de propô-los, como lembrado por Ades (1980), não é apenas diminuir a distância temporal entre possíveis eventos relacionados. Neste contexto, cabe lembrar que, epistemologicamente, nada, a não ser certas violações da lógica do uso dos conceitos na linguagem cotidiana, proíbe a formulação de conceitos mediadores (cf., Ades, 1980). Porém, nada tampouco exige, e a tendência para exigir parece ser maior em psicologia do que a tendência para proibir, pois a grande maioria das teorias assim o fazem (cf., Ades, 1987), e tal exigência, esta sim, criaria dificuldades epistemológicas insuperáveis. Se, como afirmado anteriormente, o conceito de tempo é infinitamente divisível, sempre seria possível exigir a investigação de eventos mediadores, de tal maneira que até hoje as ciências estariam tentando desvendar as subdivisões intermináveis, considerando intervalos de tempo cada vez menores, da primeira pergunta sobre a relação entre os primeiros dois eventos supostamente relacionados. Apesar de não poder ser exigido, poder-se-ía defender que quanto menores os intervalos de tempo entre os eventos considerados por uma explicação, mais completa e correta seria a explicação. Para discutir esta tese, decorrente de premissas reducionistas e mecanicistas, talvez seja útil a discussão de um exemplo.
Suponhamos que José morreu. Indagamos a três pessoas diferentes sobre a causa de sua morte. A pessoa A nos responde dizendo que José morreu porque foi atropelado. A pessoa B nos responde dizendo que José morreu porque sofreu traumatismo craniano. A pessoa C nos responde dizendo que José morreu porque houve rompimento da artéria cerebral lateral. Suponhamos ainda que todas as afirmações sejam verdadeiras. Qual é a explicação correta? Ou qual delas é mais correta ou mais completa? Qual foi afinal a causa da morte de José? Parece que muitos tenderiam a afirmar que a explicação fornecida pela pessoa C é mais completa ou mais profunda. Porém isto é um equívoco. Para um policial, investigando a morte de José, ou para as estatísticas de trânsito, a explicação fornecida por A é a melhor e, repare, pode ser suficiente. Para um familiar de José indagando a um médico, no entanto, a resposta A é totalmente absurda. Já para um fabricante de automóveis, interessado em pesquisar as relações entre o desenho dos modelos e as conseqüências de atropelamentos, a resposta oferecida por B é a mais relevante. Nenhuma das explicações é necessariamente melhor, mais completa ou mais correta, antes de conhecermos o nível de explicação esperado.
Este exemplo ilustra que, ao contrário do que parece ser uma premissa freqüentemente adotada em psicologia, o nível de explicação adequado ou correto depende do nível de explicação esperado por quem faz a pergunta. Não faz sentido afirmar que há a explicação, a qual o cientista busca incessantemente, como se apenas um tipo de explicação fosse possível, desejável ou verdadeiro. Enquanto houver níveis diferentes de perguntas que interessam, haverá níveis possíveis de explicação. Esta impressão de que existe em ciência uma única explicação possível, ou mais completa, advém de um certo mito de que existe o método científico. Nas palavras de Peters (1965),
Galileu (...) ficou famoso mais pelos seus experimentos do que pelas suas descrições do que ele fez. Isto foi uma pena. Os metodologistas que exerceram mais influência cada um enfatizou elementos nas técnicas de Galileu com a exclusão dos outros elementos (p.339).
O autor se referia, neste trecho, a Descartes e Bacon, e aos seus respectivos movimentos metodológicos, racionalismo e empirismo. Esta busca incessante atrás do método científico parece perdurar em grande parte da epistemologia contemporânea e, principalmente, em psicologia, fiel seguidora nesta jornada interminável. Surgem, então, as proibições e exigências sobre o nível de análise adequado.
Ao lidar com eventos 'distantes' no tempo, como 'dizer o número de telefone algum tempo depois de. vê-lo' (exemplo b acima), encontra-se uma tendência em psicologia, que parece crescente, de preencher a lacuna temporal com explicações neurofisiológicas, fazendo referência a substratos ou correlatos fisiológicos. Como afirmou Ades (1987),
o fato de saber que, pressionando o pedal, o carro, sofre aceleração não é argumento para eliminar o motor e sua estrutura interna como elementos a serem eventualmente levados em conta. Se, decorrido um intervalo de tempo após uma experiência, o organismo se comporta de uma maneira que indique influência desta experiência, então forçoso é pensar que ela tenha deixado uma marca no sistema nervoso. Quando parte em busca do engrama, neurofisiólogo não está embarcando numa tarefa apenas conceituai (p.3).
Pelos menos dois aspectos de tais afirmações parecem merecer uma discussão mais detalhada considerando o tema aqui abordado. O primeiro deles diz respeito à necessidade ou não de explicações fisiológicas em qualquer nível de análise. O segundo está relacionado ao tipo de explicação que a fisiologia pode vir a oferecer.
Qualquer teórico em psicologia concordaria que entre ver o número de telefone e, horas mais tarde, lembrar dele, ocorre uma grande quantidade de atividade fisiológica dentro da pessoa, e neste caso 'dentro' é interpretado literalmente e não metaforicamente. Porém, todos também concordariam, que atividades fisiológicas ocorrem o tempo todo, não sendo nenhum privilégio deste episódio, distante no tempo. Quando o indivíduo copia um número, atividades fisiológicas também ocorrem. Portanto, um primeiro ponto que deve ser ressaltado é que, logicamente, se a explicação fisiológica for necessária para os casos distantes no tempo, ela também o é para todos os casos, e qualquer explicação que não contemple as possíveis atividades fisiológicas seria inadequada. Neste caso, a psicologia se reduziria à psicologia fisiológica, o que, por si só, não parece ser uma conclusão aceitável. Portanto, a não ser que se aceite esta conclusão, a explicação fisiológica não pode ser exigida de toda teoria em psicologia.
Geralmente, a famosa 'busca do engrama' diz respeito a diferenças em atividades fisiológicas e não a uma possível descrição de todos os processos fisiológicos. No exemplo de memorização do número de telefone, poder-se-ia argumentar que entre um caso no qual a pessoa se lembra do número e outro no qual a pessoa não se lembra do número haveria uma diferença fisiológica, a 'marca no sistema nervoso' mencionada por Ades (1987), e é esta diferença que interessa ao pesquisador, não o funcionamento global do sistema nervoso o tempo todo. Digamos, a título de ilustração, que esta diferença fosse identificada. Suponhamos que se chegasse à conclusão que ocorre uma mudança no fluxo de cálcio nos terminais sensoriais pré-sinápticos de um grupo determinado de neurônios no caso em que o indivíduo se lembra, a qual não ocorre no caso em que o indivíduo se esquece. Esta seria, sem dúvida alguma, uma importante descoberta, que justificaria um certo entusiasmo, como aquele apresentado por Todorov (1991) ao afirmar que este tipo de informação criaria
(...) a possibilidade de se estudar as bases neurais da memória. Pela primeira vez se poderia testar diretamente a hipótese da existência de dois processos independentes de memória: de curto e de longo prazo (p.306).
Muitas outras questões poderiam ser levantadas a partir desta descoberta, tais como: A quantidade de cálcio na dieta de um indivíduo afeta a sua capacidade de memorização? Será que as dificuldades de memorização estão relacionadas ao nível de cálcio no metabolismo? Será que diferenças individuais na capacidade de memorização estão relacionadas a diferenças de metabolização de cálcio? Perguntas deste tipo, dentre muitas outras, são de extrema relevância e têm ocupado e ocuparão gerações inteiras de pesquisadores. Note-se, entretanto, que em todas as perguntas há termos como 'capacidade de memorização' ou 'dificuldades de memorização' que exigem uma análise antecedente de um outro nível não fisiológico, isto é, alguma informação sobre o que as pessoas são capazes de memorizar em que condições precede logicamente tais perguntas, pois o próprio 'fluxo de cálcio' só foi identificado porque se sabe identificar a diferença entre memorizar e não memorizar. Por outro lado, quando se estabelece uma relação do tipo 'se o estímulo for repetido ao menos dez vezes, o indivíduo será capaz de memorizar', assume-se que o funcionamento do seu sistema nervoso seja 'normal'. Se houver, por exemplo, uma deficiência aguda de cálcio em sua dieta, e isto, por sua vez, influenciar a capacidade de memorização, a relação hipotetizada acima será desfeita. Portanto, as condições fisiológicas podem ser vistas como necessárias para que a memorização, por exemplo, ocorra, mas não são suficientes. Se o nível de cálcio for adequado, não se pode a partir disso afirmar que a memorização ocorrerá, pois alguma forma de apresentação do estímulo precisaria ocorrer; por outro lado, se o nível de cálcio for inadequado, certamente não ocorrerá memorização. Não parece ser gratuita a grande quantidade de estudos de extirpação ou lesão de partes do sistema nervoso, pois este parece ser o caso mais típico de uma investigação de condições necessárias. A questão teórica se complica quando os resultados são interpretados como condição suficiente para a ocorrência do fenômeno de interesse. Estabelecer uma relação, por exemplo, entre uma lesão no hipotálamo e formas estranhas de ingestão de alimentos, auxilia na identificação das condições necessárias para uma ingestão 'normal' de alimentos; a questão se complica, no entanto, quando os autores passam a afirmar que o hipotálamo controla a ingestão de alimentos (cf., Carlson, 1986; Cofer, 1980; Cofer & Appley, 1967), dando a entender que o funcionamento do hipotálamo é condição suficiente para que um organismo coma ou pare de comer. Ninguém entra em um restaurante porque o seu hipotálamo ordenou que assim o fizesse, nem tampouco come carne ao invés de arroz porque o hipotálamo tem as suas preferências. Expressões tais como 'controla a fome' ou 'prefere carne ao invés de arroz' simplesmente não se aplicam ao hipotálamo ou qualquer outra parte do sistema nervoso. Esse tipo de expressão se aplica a pessoas.
Pode-se portanto afirmar que o indivíduo memorizou em b e não em a porque o fluxo de cálcio foi diferente? A resposta a esta pergunta depende obviamente do contexto no qual ela é feita. Se todas as outras condições fossem idênticas e o nível de cálcio diferente, como no caso de dietas diferentes, a resposta seria afirmativa, tendo o cuidado de lembrar que o nível de cálcio impediu que a memorização ocorresse em a, e não pode ser considerado condição suficiente para que a memorização ocorresse em b; outras coisas, como ver o número anteriormente, precisam ter ocorrido em 6. Se, no entanto, a diferença estiver baseada, por exemplo, no número de vezes que o indivíduo viu o número em cada um dos casos, a resposta seria negativa. Aqui, restaria ainda a pergunta sobre o que fez com que o fluxo de cálcio fosse diferente. Este parece ter sido o caso considerado por Skinner (1953) ao afirmar que mesmo que se conhecesse a série de eventos fisiológicos que ocorrem entre um evento no ambiente e a resposta do organismo, ainda teríamos que explicar o que deu origem a esta série de eventos, o que nos levaria, eventualmente, para fora do organismo. Nem todos os casos, no entanto, parecem se ajustar a este modelo explicativo.
Quando se explica o processo de memorização com base em 'coisas' tais como o número ou duração de apresentação dos estímulos ou eventos, as diferenças de complexidade e tipo dos estímulos, as diferentes contingências ou motivações prevalecendo em diferentes situações, entre muitas outras 'coisas' de nível semelhante, geralmente está se assumindo que certas condições necessárias ao processo de memorização, dentre elas o funcionamento 'normal' do sistema nervoso, estão presentes e são mantidas constantes. Quando, por outro lado, se explica o processo de memorização com base em 'coisas' tais como o fluxo de cálcio, a taxa metabólica, lesões no hipotálamo, entre muitas outras 'coisas' de nível semelhante, está se assumindo que certas condições suficientes para o processo de memorização, dentre elas o número de apresentação dos estímulos, estão presentes e são mantidas constantes. Além de esclarecer algumas das condições necessárias para o primeiro nível de análise, descobertas oriundas deste segundo nível de análise podem, por exemplo, auxiliar na elucidação de diferenças individuais de desempenho observadas no primeiro nível. Entre estes dois tipos de análise parece haver um nível intermediário ocupado pelas teorias, geralmente denominadas, 'cognitivas'. Estas realizam uma análise do primeiro tipo, com relação às variáveis observadas e manipuladas, tais como, tipo e forma de apresentação de materiais (e não fluxo de cálcio, por exemplo), porém teorizam sobre como funciona o sistema sem utilizar a linguagem fisiológica, como, por exemplo, memória de curto e longo prazo, conceitos estes que podem, por sua vez, vir a ser compatíveis com a descrição do sistema nervoso, como o exemplo citado acima sobre o fluxo de cálcio. Este nível de explicação pode ser útil neste trabalho de 'ponte' entre o primeiro e o segundo tipo de análise. Claro que todos estes tipos de análise se misturam na maioria das teorias, pois as premissas de um tipo de análise, tais como o funcionamento 'normal' do sistema nervoso (premissa do primeiro nível) ou as condições suficientes para que a memorização ocorra (premissa do segundo nível), constituem o própio objetivo a ser alcançado pelo outro nível. Além disso, nem todas as questões são tão 'limpas' como apresentado aqui, pois interações entre os diferentes níveis de análise constituem muitas vezes o que se deseja investigar. O objetivo de toda esta discussão, no entanto, foi tentar ilustrar que vários níveis de análise são possíveis, desejáveis e não necessariamente incompatíveis, como pode parecer nas longas discussões sobre se deve ser proibida ou exigida a suposição de eventos mediadores quando dois eventos, aparentemente relacionados, ocorrem separados por intervalos 'longos' de tempo (e.g., Ades, 1980, 1987; Staddon, 1983), como é o caso, de maior interesse aqui, de 'fazer ou guardar na cabeça'. Apesar das longas e fervorosas discussões sobre a definição de ciência continuarem ocorrendo, cabe lembrar que Galileu certamente fez, pelo menos, três coisas: especulou, observou, e, principalmente, não aceitou as proibições de sua época (cf., Peters, 1965).
Voltando ao nosso exemplo de João e o número de telefone de Maria, no qual em a João olhou a agenda enquanto em b ele não o fez, há uma outra importante diferença entre a e b, com a qual todos os autores parecem concordar, que é a seguinte: a, ou algo parecido com a, sempre precede b. Isto é, independentemente do tipo de teoria adotada, com ou sem eventos mediadores, fisiológicos ou não, todos concordam que antes de João ser capaz de dizer o número de telefone de Maria sem olhar a agenda, é necessário que ele tenha visto ou ouvido este número de alguma maneira, pelo menos uma vez, ou seja, nenhuma teoria defende que João nasceu sabendo o número de telefone de Maria. Além disso, as teorias que interpretam o conceito 'guardar na cabeça' de forma positiva, descrevendo que João 'vê' o número de alguma maneira na ausência da agenda, assumem que algo que ocorre em a, tal como ver o número, é sempre condição necessária para dizer o número. Note-se, entretanto, que o fato de a ser condição necessária para 6, não implica que algo que ocorre em a, como ver o número, seja sempre condição necessária para dizer o número. Por outro lado, uma interpretação negativa do conceito, como aquela apresentada por Oliveira-Castro (1992), não assumiria que ver o número é sempre condição necessária para dizer o número. Se os eventos em a forem descritos em três passos, a saber: al) Alguém pergunta à João o número de telefone de Maria; a2) João olha o número na sua agenda; e, a3) João diz o número à pessoa — a diferença entre a e b se baseia no fato de a2 não ocorrer em b, e a pergunta de interesse seria algo como: 'Quais são as condições necessárias e suficientes para que a3 ocorra sem que a2 ocorra?' ou 'Em que condições a2 deixa de ser necessário para a3?'. Vale ressaltar que perguntas semelhantes a estas também precisam ser respondidas quando se afirma que, em b, a2 ocorre de alguma maneira 'dentro' do indivíduo, pois caberia perguntar pelas condições que fazem com que a2 vá para 'dentro' do indivíduo. Ora, então não faz diferença alguma se o conceito é interpretado positiva ou negativamente? Como discutido anteriormente, a diferença parece se basear em uma questão de ênfase em condições suficientes ou necessárias para a memorização, por exemplo, que pode ser constatada, entre outras coisas, nas diferenças de procedimentos adotados. Como discutido anteriormente, quando a ênfase principal da pesquisa recai sobre as 'coisas' que ocorrem 'dentro' do indivíduo, certas condições suficientes são geralmente assumidas como premissa de trabalho. Parece que, por isso, por exemplo, a maioria das pesquisas sobre memória que adotam teorias cognitivas, interpretando o conceito como positivo, fornecem aos sujeitos um período de estudo do material a ser memorizado, após o qual, os possíveis efeitos das variáveis, tais como tipo ou complexidade de material, são verificados em situações de testes. Ou seja, as investigações se iniciam a partir de b no nosso exemplo, isto é, assumindo que o estudo já foi suficiente para que a memorização ocorra, pois o maior interesse se concentra no efeito diferencial de, por exemplo, diferentes tipos de materiais (números, letras, etc.) sobre as medidas de recordação, com o objetivo de conhecer como letras e números são 'processados'. Uma interpretação negativa do conceito, por outro lado, levaria a uma investigação mais detalhada do que ocorre durante o próprio período de estudo do material, ou seja, maior ênfase seria dada à mudança de a para 6, no nosso exemplo. As perguntas 'Quais são as condições necessárias e suficientes para que a3 ocorra sem que a2 ocorra?' e 'Para onde vai e como funciona a2 quando dentro do indivíduo?' são bastantes diferentes.
Além disso, quando o conceito é interpretado negativamente, enfatizando a não ocorrência de alguns elos em cadeias de eventos, vários fenômenos tipicamente vistos como não relacionados podem vir a ser interpretados teoricamente de forma semelhante. Imaginem o caso de uma pessoa aprendendo a dirigir. Inicialmente, para pisar no pedal da embreagem, a pessoa geralmente olha para o pedal e depois pisa. Depois de algum treino, a pessoa é capaz de pisar no pedal sem olhá-lo. Este não é um fenômeno semelhante ao caso de memorização de um número de telefone? Apesar de parecer sê-lo, a maioria das teorias e técnicas psicológicas os interpretariam de forma diferente, sem relacioná-los, pois um deles estaria, de acordo com as teorias, relacionado a uma tarefa meramente motora enquanto o outro já envolve uma tarefa mental. E mesmo que ambos fossem tratados como tarefas mentais, provavelmente, não seriam considerados na mesma teoria (aliás, provavelmente, nem na mesma revista de psicologia), pois um envolve uma habilidade motora enquanto o outro envolve uma habilidade verbal. No entanto, à primeira vista, os fenômenos não parecem muito diferentes. Como ressaltado por Ryle (1949), e lembrado anteriormente, a distinção entre o uso ou não de uma faculdade mental não está baseada na distinção entre público e privado.
Um exemplo semelhante a este, do aprendiz de direção, foi fornecido por Watson (1963), descrevendo a maneira pela qual se aprende a tocar uma música no piano:
(...) primeiro você olha a partitura e vê a nota 'sol', então você bate nela; então você vê a nota 'lá' e bate nela; então a nota 'si' e bate nela. Suas notas são uma série de estímulos visuais, suas respostas são organizadas de acordo com esta série. Porém quando você tiver praticado por um curto período, alguém pode remover a partitura e você pode continuar corretamente. (...) Você sabe como explicar isto - você sabe que a primeira resposta muscular que você fez - a primeira tecla que você bate ao começar a tocar a melodia, substitui o estímulo visual da segunda nota. Estímulos musculares (cinestésicos) agora servem no lugar de estímulos visuais e o processo todo continua tão suavemente quanto antes (p.234, grifos do autor).
A explicação fornecida por Watson, de que estímulos musculares substituem estímulos visuais, serve como exemplo de mais uma interpretação positiva do conceito 'guardar na cabeça', pois neste caso ocorreriam, na ausência da partitura, estímulos internos, musculares, que substituem a partitura. Ora, os 'estímulos musculares' também devem ocorrer quando a partitura está presente, e, no entanto, eles só são mencionados quando se retira a partitura. Por que? O tratamento teórico proposto por Watson para o pensamento foi idêntico a este, embora se tratando de hábitos verbais envolvendo músculos da laringe.
Este tipo de interpretação teórica foi amplamente debatida por teóricos da aprendizagem. Lashley (1951), por exemplo, criticou este tipo de teoria argumentando que algumas seqüências, como o caso do pianista, ocorrem tão rapidamente que não se poderia considerar um elemento na seqüência como estímulo para o seguinte. Além disso, há casos, como nos labirintos de dupla alternação, nos quais os movimentos de um elo na seqüência são idênticos aos movimentos em elos seguintes, o que eliminaria a possibilidade de um movimento servir como estímulo para o movimento seguinte. Muitas tentativas de solução para este tipo de dificuldade teórica foram apresentadas durante todos estes anos, dentre elas as discussões sobre a formação de novas unidades de respostas, e o assunto ainda é extremamente contemporâneo (cf., Catania, 1984; Marr, 1979). O que chama mais a atenção, no entanto, é que, passado mais de meio século, Catania (1984), discutindo o controle de estímulo exercido pelas características do responder do próprio sujeito, afirmou que: "Nestes casos, estímulos estão é claro disponíveis nos músculos, juntas, e assim por diante. A estes estímulos, chamados proprioceptivos, têm se apelado nas explicações destes desempenhos" (p.151, grifo do autor). A explicação não é idêntica àquela oferecida por Watson? Um outro exemplo do estado em que se encontram as explicações deste tipo de fenômeno pode ser encontrada no trabalho de Marr (1979), ao discutir algumas questões relacionadas ao tratamento teórico de unidades de respostas:
Esta situação parece semelhante aos processos envolvidos no desenvolvimento de habilidades psicomotoras aonde os desempenhos iniciais e terminais podem manter uma pequena semelhança um com o outro. Um datilógrafo iniciante 'cata milho', i.e., o responder é controlado letra por letra. Um datilógrafo treinado, por outro lado, apresenta seqüências coesas de respostas que são executadas em vários padrões rítmicos complexos. De alguma forma, o desempenho final emerge pela união de respostas 'elementares' em padrões coesos. Exatamente como isto ocorre permanece desconhecido, mas tais processos estão no centro do problema de unidades (p.225).
A interpretação positiva do conceito 'fazer na cabeça' pode, talvez, ter dificultado os avanços teóricos na área. De qualquer maneira, algumas das possibilidades teóricas para explicar este tipo de fenômeno serão discutidas mais adiante. Caberia agora apresentar um tipo de procedimento que possibilita investigar tais fenômenos sistematicamente, assim como alguns dos resultados obtidos, tendo em vista que todos os exemplos que podem ser encontrados na literatura, ou extraídos da vida cotidiana, são assistemáticos, ou seja, não permitem a observação da diminuição das respostas intermediárias (cf., Oliveira-Castro, 1992), i.e., aqueles comportamentos que deixam de ocorrer.
Demonstrações empíricas
Em dois experimentos, selecionou-se uma tarefa simples, análoga ao exemplo de memorização do número de telefone olhando a agenda, para investigar os efeitos de treino sobre a diminuição de respostas intermediárias, tais como olhar a agenda. Estes experimentos podem ser interpretados como demonstrações da análise conceituai apresentada. Uma tarefa de memorização de pares associados de símbolos-números foi criada utilizando um microcomputador. A tarefa dos sujeitos consistiu em memorizar os números correspondentes aos símbolos. Ao ser apresentado um símbolo, a cada tentativa, os sujeitos deveriam consultar uma tela de auxílio (resposta intermediária) para ver o número correspondente àquele símbolo. Após consultar a tela de auxílio, os sujeitos deveriam escrever o número sem que a tela de auxílio estivesse presente, e um som indicava se o número digitado estava correto ou incorreto. Após o som, ocorria um curto intervalo de tempo antes que um outro símbolo fosse apresentado, iniciando uma nova tentativa. Os sujeitos podiam consultar a tela de auxílio o quanto precisassem, porém foram instruídos que o objetivo da tarefa era memorizar os números correspondentes aos símbolos, ou seja, deveriam tentar, quando se julgassem capazes, escrever o número, ao ser apresentado o símbolo, sem consultar a tela de auxílio.
Quarenta e dois alunos matriculados em um curso de psicologia da Universidade de Brasília, participaram do primeiro experimento, o qual fez parte das atividades práticas da disciplina. Seis pares de símbolos-números foram utilizados, sendo que cada número era formado por cinco algarismos (por exemplo, 54823). Cada símbolo foi apresentado 24 vezes durante a sessão, em ordem semi-aleatória, sendo que todos os símbolos eram apresentados uma vez antes que qualquer um fosse repetido. A duração e a freqüência das consultas (resposta de auxílio), assim como respostas corretas e incorretas para cada algarismo digitado, foram registradas para verificar se diminuiriam com o aumento das tentativas, até deixarem de ocorrer.
Considerando que a duração das respostas de auxílio não pode, por si só, ser considerada como uma medida de desempenho, pois a duração pode diminuir ao mesmo tempo que os erros aumentam, foi utilizada a seguinte medida composta: tempo de auxílio dividido por número de dígitos corretos (tempo/corretas), sendo que quando esta medida foi igual a zero e os erros diferentes de zero ela foi excluída da análise. Considerando que o tempo durante o qual o sujeito podia consultar a tela de auxílio era livre, fazendo com que uma consulta por tentativa para cada par fosse suficiente, os resultados relativos à freqüência de consultas não serão apresentados. Uma análise detalhada dos padrões de respostas confirmou esta suposição. Este padrão talvez fosse diferente se o tempo de consulta fosse pré-fixado ou se os números fossem mais longos (mais de cinco dígitos).
O gráfico mostra a média, calculada para os seis símbolos, do tempo/corretas como função das 24 tentativas do experimento, calculada para cada um de oito sujeitos, escolhidos como representativos dos resultados de todos os sujeitos. Como se pode observar, o tempo/corretas diminuiu, com uma tendência negativamente acelerada, com o aumento das tentativas para todos os sujeitos. Observa-se, ainda, que: 1) para alguns sujeitos, o tempo/corretas atingiu o valor zero antes da 24º tentativa; e 2) a diminuição do tempo/corretas apresentou, na maioria dos casos, uma certa oscilação, ou seja, apesar da tendência geral ter sido decrescente, ocorreram alguns "sobe/desce" entre tentativas.
Um segundo experimento foi realizado, utilizando o mesmo procedimento, com as seguintes modificações: 1) Vinte e três pessoas participaram e receberam remuneração de acordo com os seus desempenhos (número de vezes que digitaram os números corretamente sem consultar a tela de auxílio); 2) As instruções foram um pouco alteradas, incluindo um exemplo antes de iniciar a sessão propriamente dita, para garantir melhor compreensão das mesmas, pois alguns sujeitos no primeiro experimento não as entenderam; 3) Oito pares de símbolos-números foram utilizados; e 4) Os números, também formados por cinco dígitos, foram criados a partir de algumas regras que evitassem a ocorrência de algarismos repetidos ou 'zeros' nos mesmos.
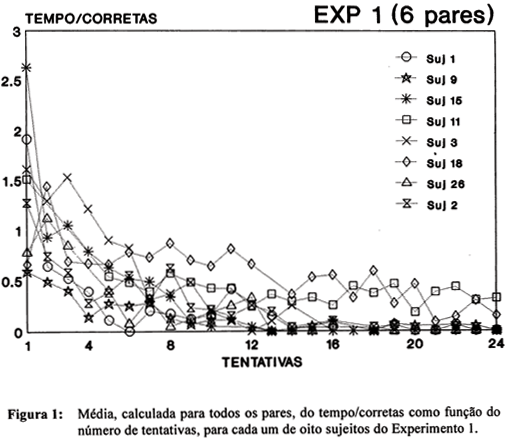
O gráfico 2 apresenta a média, calculada para os oito símbolos, do tempo/corretas como função das 24 tentativas, calculada para cada um dos oito sujeitos escolhidos como representativos dos resultados de todos os sujeitos. Em linhas gerais, estes resultados replicam aqueles obtidos no primeiro experimento. Vale ressaltar, no entanto, que menos sujeitos deixaram de consultar a tela de auxílio nas 24 tentativas, indicando talvez o efeito do aumento de número de pares, e diferenças individuais maiores parecem ter ocorrido.
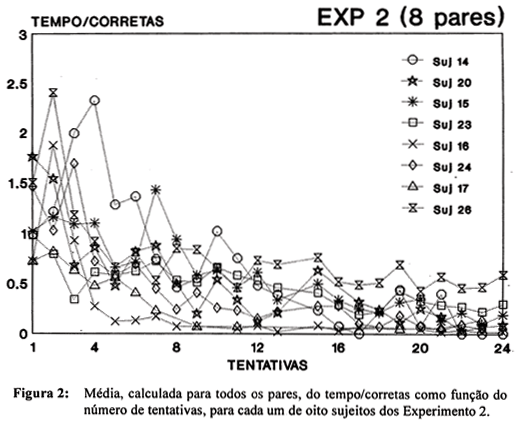
Um terceiro experimento foi realizado com o objetivo de testar a generalidade dos resultados obtidos nos Experimentos 1 e 2 utilizando uma tarefa diferente. Para isso, os caracteres (letras, números e sinais) do teclado do computador foram cobertos, e os sujeitos foram solicitados a pressionar, com o dedo correto, a tecla correspondente a um caractere que era apresentado na tela. Para ver os caracteres e dedos correspondentes às teclas os sujeitos deviam pressionar a tecla [Enter], a qual fazia com que um desenho completo do teclado contendo todos os caracteres aparecesse na tela. Após ver o desenho do teclado na tela, por quanto tempo quisessem, os sujeitos deviam pressionar novamente a tecla [Enter], o que fazia com que o desenho desaparecesse, e pressionar a tecla correspondente ao caractere que havia sido apresentado na tela. Um som indicava se a tecla pressionada estava correta ou incorreta, após o qual, ocorria um curto intervalo, e um outro caractere era apresentado, iniciando uma nova tentativa. Quarenta e seis dos principais caracteres do teclado foram utilizados, sendo associados às suas teclas usuais. A sessão terminava após 30 apresentações aleatórias de todos os 46 caracteres, sendo que todos eram apresentados antes que qualquer um se repetisse.
O Gráfico 3 apresenta a média, calculada para os 46 caracteres, do tempo/corretas como função do número de tentativas, para cada um dos oito sujeitos escolhidos como representativos dos resultados de todos os sujeitos. Pode-se observar que o tempo/corretas apresentou uma diminuição negativamente acelerada com o aumento de tentativas para todos os sujeitos. Diferenças individuais podem ser observadas no tempo/corretas nas primeiras tentativas. Alguns sujeitos não completaram a sessão afirmando que se sentiam 'cansados', pois as sessões duraram quase duas horas, diferentemente dos outros experimentos, nos quais as sessões tiveram uma duração aproximada de uma hora.
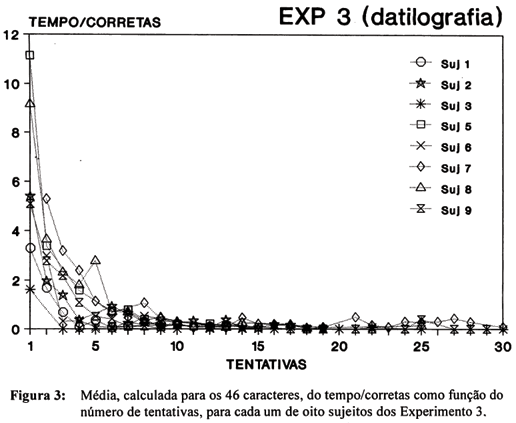
Este terceiro experimento diferiu dos dois primeiros em pelo menos dois aspectos que podem vir a ter relevância teórica: 1) A tela de auxílio apresentava todas os caracteres correspondentes a todas as teclas diferentemente dos outros experimentos, nos quais cada número era apresentado separadamente; isto talvez explique a maior curvatura das funções no segundo experimento; e 2) Enquanto as associações entre símbolos-números nos dois primeiros experimentos foram arbitrariamente criadas para o procedimento, as associações entre caracteres-teclas já eram em parte (apesar dos sujeitos afirmarem não saber datilografar, os resultados demonstraram que eles já sabiam alguma coisa) conhecidas.
Considerações teóricas
Os resultados desses experimentos podem ser interpretados como demonstrações experimentais da análise conceituai aqui apresentada, isto é, eles demonstram que uma observação sistemática do aspecto negativo de 'fazer na cabeça' corrobora as observações assistemáticas da vida diária. Além disso, esses resultados fornecem algumas informações não necessariamente extraídas de observações assistemáticas, tais como: 1) os comportamentos diminuem gradualmente com o aumento de tentativas; 2) estas diminuições parecem ser negativamente aceleradas; 3) apesar de se observar diferenças individuais, esta diminuição parece seguir um padrão ordenado (a mesma função); 4) o padrão de diminuição parece ser replicável e generalizável para tarefas diferentes; e, 5) o padrão de diminuição parece ser sensível a variáveis que, se sabe, afetam o processo de memorização (número de pares). Resumindo, parece ser possível uma investigação sistemática dos fenômenos descritos na linguagem cotidiana como 'fazer na cabeça' ou 'fazer mentalmente' mantendo uma interpretação negativa do conceito.
Mas como podemos interpretar teoricamente esses resultados? Pois que respostas deixam de ocorrer todos já sabiam. E apesar dos resultados dos experimentos demonstrarem que elas diminuem de forma aparentemente ordenada, como poderíamos explicar esta diminuição? Elaborações teóricas claras e precisas deveriam obviamente aguardar uma maior elucidação das variáveis que influenciam a diminuição deste tipo de respostas. No entanto, alguns pontos teórico talvez possam ser ressaltados e discutidos.
O primeiro aspecto que merece ser discutido é o próprio conceito de 'resposta intermediária'. Uma expressão semelhante a esta, 'termos intermediários', foi utilizado por Thorndike no contexto de uma discussão muito acirrada com Hollingworth e Jennings (cf, Thorndike, 1971), sobre a possibilidade de uma série de eventos psicológicos ou fisiológicos A-B-C-D, ocorrendo em seqüência, se transformar em uma série A-D, com o desaparecimento dos termos intermediários B e C. Eles discutiam se através de simples repetições da série de eventos era possível ocorrer tal transformação, sendo que Thorndike defendia não ser isto possível, pois alguma outra coisa, tal como conseqüências diferentes, seria necessária para que a transformação ocorresse, enquanto Jennings e Hollingworth defendiam que a transformação poderia ocorrer com o aumento de repetições da série. Vários exemplos foram utilizados para defender um ou outro ponto de vista, e, pelo que é do conhecimento do presente autor, o assunto não parece ter sido resolvido definitivamente. Ambos os lados desta disputa, no entanto, concordavam que tal transformação era possível; o que estava em jogo eram as condições necessárias para que a transformação ocorresse. Enquanto Thorndike afirmava que os meninos na escola não tendem a contar '1,2,10', Hollingworth explicava que com o aumento de repetições as respostas falsas eram eliminadas e, as respostas corretas, selecionadas. Talvez ambos tivessem em parte razão, pois parece que tratavam de fenômenos um pouco diferentes. No caso do menino contando de 1 a 10, os termos intermediários não poderiam ser eliminados sem alterar as conseqüências, pois a resposta final seria errada, e, neste sentido Thorndike tinha razão. No entanto, parece que passou despercebido naquela discussão a possibilidade de algumas respostas serem desnecessárias para a contingência em vigor, isto é, a possibilidade de não haver alteração na conseqüência programada para a resposta final da seqüência caso um dos termos intermediários deixe de ocorrer. E esta parece ser a principal características do uso do termo 'respostas intermediárias' no presente trabalho. Estas respostas, embora possam ser necessárias no início do treino, não são necessárias na contingência em vigor. Apesar de ser necessário, por exemplo, ver ou ouvir um número de telefone antes de ser capaz de discá-lo, não há nada que obrigue ver o número para discá-lo. Em outras palavras, discando o número nós podemos falar com quem queremos, independentemente se para discar nós olhamos a agenda, perguntamos a alguém, ou simplesmente adivinhamos o número tentando todas as combinações possíveis. Olhar a agenda não faz parte da contingência 'discar o número-falar com a pessoa'. Esta talvez seja, tentativamente, uma definição funcional de 'respostas intermediárias', a qual ressalta um aspecto semelhante entre o caso de memorizar um número de telefone (a contingência normalmente não exige que se olhe a agenda), resolver problemas aritméticos 'mentalmente' (a contingência não exige que se escreva todos os passos; note que na escola isto é em alguns momentos exigido e em outros proibido), e datilografar (a contingência não exige que se olhe o teclado, muito pelo contrário).
A expressão 'resposta de observação' tem também sido usada, em um contexto semelhante, em algumas pesquisas em Análise do Comportamento (cf., Dinsmoor, 1983), para designar aquelas respostas que produzem estímulos discriminativos de outra forma ausentes na situação experimental, ou seja, este tipo de resposta de observação, a rigor, transforma uma contingência de esquemas mistos de reforço em uma de esquemas múltiplos. E esta é a diferença fundamental entre a conceituação aqui proposta de 'respostas intermediárias' e as 'respostas de observação', pois estas últimas geralmente alteram a contingência em vigor. E, quando não o fazem, como no experimento de Bickel, Higgins e Hughes (1991), no qual a resposta de observação tinha a função de indicar se as respostas individuais em seqüências de dez respostas, em um procedimento de aquisição repetida, estavam ou não corretas, elas deixam de ocorrer depois de muito treino, como nos experimentos descritos aqui. Por que elas deixam de ocorrer?
O conceito de 'resposta intermediária' pode vir a ser útil também para ressaltar alguns efeitos das contingências que estabelecem conseqüencias para o comportamento, tais como os efeitos de estímulos reforçadores, pouco considerados nas teorias de reforço contemporâneas. De acordo com tais teorias, a apresentação de um estímulo reforçador tem pelo menos dois efeitos sempre ressaltados, a saber, um aumento na probabilidade das respostas que antecederam a apresentação e, conseqüentemente, uma diminuição na probabilidade das respostas incompatíveis com as respostas que antecederam a apresentação. O conceito de respostas intermediárias sugere ainda um outro efeito, a saber, uma diminuição das respostas desnessárias para a apresentação do estímulo reforçador, isto é, as respostas não exigidas pela contingência parecem, em alguns casos, diminuir, eventualmente deixando de ocorrer. Se a contingência estabelece, por exemplo, que uma resposta de pressão à barra produz alimento, e o rato faz uma pirueta antes de pressionar a barra a primeira vez, por que a pirueta acaba deixando de ocorrer na medida em que o treino prossegue? Isto não é em parte o que acontece durante um procedimento de modelagem? Explicações baseadas em 'custo de resposta', 'gradiente de reforço' e 'redução no atraso de reforço' podem certamente ser encontradas na literatura. No caso das explicações em termos de 'custo de resposta' seria necessário assumir alguma premissa global do tipo 'organismos tendem a economizar energia', ou alguma outra premissa semelhante, que precisaria de elaboração e explicitação. As explicações em termos de 'gradiente de reforço' dificilmente conseguiriam explicar o fenômeno, pois o máximo que poderiam fazer é explicar porque uma determinada resposta é mais 'forte' que outra, mas não conseguiriam explicar porque uma resposta que é reforçada, pelo menos um pouco, deixa de ocorrer. Já uma explicação em termos de 'redução no atraso de reforço' seria mais plausível, pois na medida em que a resposta intermediária diminui, mais rapidamente a conseqüência reforçadora é apresentada, o que seria equivalente a um aumento na freqüência de reforços. Análises deste tipo têm sido aplicadas na explicação do desempenho em procedimentos de escolha-de-acordo-com-o-modelo-com-atraso, ou seja, procedimentos que investigam 'memória', e parecem promissoras (cf., Wixted, 1989).
Uma redução no atraso do reforço poderia vir a explicar a diminuição da resposta intermediária, mas não explicaria porque esta diminuição não faz com que o desempenho se deteriore, isto é, não explicaria porque a resposta se torna desnecessária com, por exemplo, o aumento de tentativas. Isto talvez pudesse ser explicado com o conceito de 'transferência de estímulos' ou 'substituição de estímulos' (cf., Watson, 1963), ou seja, com os sucessivos emparelhamentos (ou outras condições que precisam ser investigadas empiricamente) dos dois estímulos na mesma contingência, como por exemplo um símbolo e um número nos Experimentos 1 e 2, o primeiro estímulo adquiriria certas funções do segundo estímulo (cf., Watson, 1963). Neste sentido, a situação é bastante semelhante aos procedimentos de condicionamento clássico (cf., Pavlov, 1928) e esvanecimento de estímulo (cf., Catania, 1984), nos quais, havendo um estímulo na presença do qual a probabilidade de ocorrência de uma resposta é elevada, emparelha-se um outro estímulo inicialmente neutro que, após vários emparelhamentos, passa a eliciar (no caso de condicionamento reflexo) ou 'controlar' a emissão da resposta. A questão que geralmente se coloca neste ponto é se, nesta nova situação, se trata de uma nova unidade de respostas. Este tipo de pergunta, sobre unidades, não parece ser muito proveitoso pois acaba por induzir uma certa busca por unidades fundamentais e discussões sobre as possíveis unidades mínimas ou máximas (cf., Marr, 1979). Talvez seja mais útil estabelecer relações entre os dois comportamentos, sem a preocupação de identificar unidades, pois parece fazer sentido afirmar, por exemplo, que os comportamentos são de níveis diferentes, pois um é formado a partir do outro. Não 'formado' no mesmo sentido em que se afirmaria que 'uma escola é formada por meninos' mas mais no sentido em que se diria que 'meninos são formados pelas escolas'. Pois a seqüência de respostas 'olhar o símbolo-digitar o número' é formada a partir da seqüência 'olhar o símbolo-olhar o número-digitar o número', na medida em que a segunda seqüência foi condição necessária para, ou tornou possível, a primeira seqüência. Se considerarmos, a título de ilustração, que a primeira seqüência é de Nível 2 enquanto a segunda é de Nível 1, poderíamos conceber facilmente seqüências de Nível 3. Poderíamos partir de uma seqüência de Nível 2, 'olhar o símbolo-digitar o número', a qual já ocorre, e, emparelhando por exemplo nomes de pessoas aos símbolos, formar seqüências de Nível 3. Para se conseguir isto, um nome seria apresentado, o sujeito olharia o símbolo correspondente àquele nome, e digitaria o número (o qual o sujeito já ⢠havia aprendido no Nível 2). Esperar-se-ia que com o aumento das tentativas ocorresse uma diminuição da resposta intermediária, neste caso olhar o símbolo, e seu eventual desaparecimento. A seqüência 'olhar nome-olhar símbolo-digitar número' passaria à seqüência 'olhar nome-digitar número', esta última, uma seqüência de Nível 3 (note que esta análise de níveis é muito semelhante à análise usual de condicionamento reflexo de ordem superior). Seqüências de nível inferior ao Nível 1 também podem facilmente ser concebidas neste exemplo, pois os sujeitos ingressaram nos experimentos de memorização de números sabendo pressionar a tecla contendo '5', por exemplo, ao ler '5' na tela. Uma criança não alfabetizada não seria capaz de fazer isto sem auxílio. Estes 'níveis' seriam portanto relativos ao nível de análise de interesse e os seus limites superiores e inferiores precisariam ser determinados empiricamente em cada contexto. Quantos níveis hierárquicos podem ser formados em que contexto? Cabe ressaltar ainda, que uma análise de níveis diferentes de respostas, semelhante a esta, seria necessária em qualquer teoria de aprendizagem, pois do contrário o processo de aprendizagem se constituiria apenas em uma adição interminável de elementos separados, de tal maneira que ao desempenhar uma tarefa complexa, o indivíduo teria que desempenhar todas as outras que foram necessárias na aquisição desta última (o próprio Wundt reconheceu isto ao propor o conceito de 'síntese criativa'). Portanto, quanto mais o indivíduo aprendesse, de acordo com uma teoria aditiva, tanto mais tempo ele levaria para desempenhar qualquer tarefa. Note que uma interpretação positiva do conceito 'fazer na cabeça' não resolveria o problema, pois, ainda assim, o indivíduo teria que desempenhar todas as tarefas que foram anteriormente necessárias, mesmo que ele 'fizesse' tudo isto 'dentro'.
Quando nos deparamos com uma seqüência de comportamentos 'pronta', como podemos conhecer os níveis anteriores que formaram a seqüência? Uma das maneiras de fazer com que uma seqüência retorne ao nível imediatamente anterior parece ser através da indução de erros. Quando 'guardamos na cabeça' um número de telefone e, um dia, ligamos para o número errado, geralmente a primeira coisa que fazemos é conferir o número na agenda. O mesmo aconteceu no experimento de Bickel, Higgins e Hughes (1991) quando contingências foram estabelecidas para induzir os sujeitos a cometer erros; os sujeitos voltaram a apresentar a resposta de observação que já não ocorria. Todas estas questões precisam ser investigadas empiricamente, pois os limites de níveis possíveis e quantidade de treino podem afetar tais relações que parecem fazer sentido intuitivamente. Muito treino pode, por exemplo, vir a eliminar estas possíveis relações entre erros e volta ao nível anterior, como parece ser o caso quando, ao tentar discar para a própria casa, a ligação é completada em outra casa várias vezes; neste caso épouco provável que a pessoa venha a olhar a agenda (o próprio telefone muitas vezes nem é escrito na agenda), sendo mais provável discar para a telefonista.
O objetivo aqui, porém, não é resolver todas as questões teóricas relacionados ao tema em questão. Tentou-se, isto sim, apresentar possíveis análises teóricas compatíveis com uma interpretação negativa do conceito 'fazer na cabeça', e por isso mais ênfase foi dada aos conceitos teóricos advindos de teorias de reforço, as quais mais se aproximam deste tipo de análise. Quanto aos casos mais complexos como 'resolver problemas aritméticos mentalmente' ou 'preparar um discurso na cabeça', eles não parecem a princípio exigir uma análise teórica fundamentalmente diferente daquela apresentada aqui para os casos mais simples. Os limites de níveis possíveis de respostas intermediárias, dentre outras coisas, deveriam ser identificados antes que se possa concluir sobre a adequação da presente proposta para casos mais complexos.
REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS
ADES, C. De ganchos e argolas: a perspectiva temporal na explicação do comportamento. Ciência e Cultura, v.32, n.4, p.428-45, 1980. [ Links ]
ADES, C. Por que memória? Psicologia, v.13, n.1, p.1-4, 1987. [ Links ]
ANDERSON, J.R. Cognitive psychology. New York, W.H. Freeman, 1986. [ Links ]
BICKEL, W.K.; HIGGINS, S.T.; HUGHES, J.R. The effects of diazepam and triazolam on repeated acquisition and performance of response sequences with an observing response. Journal of the Experimental Analysis of Behavior, v.56, n.2, p.217-37, 1991. [ Links ]
CARLSON, N.R. Physiology of behavior. Boston, Allyn and Bacon, 1986. [ Links ]
CATANIA, A.C. Learning. Englewood Cliffs, Prentice-Hall, 1984. [ Links ]
COFER, C.N. Motivação e emoção. Rio de Janeiro, Interamericana, 1980. [ Links ]
COFER, C.N.; APPLEY, M.H. Motivation: theory and research. New York, John Wiley & Sons, 1967. [ Links ]
DINSMOOR, J.A. Observing and conditioned reinforcement. The Behavioral and Brain Sciences, v.6, n.4, p.693-728, 1983. [ Links ]
HARZEM, P.; MILES, T.R. Conceptual issues in operant psychology. New York, John Wiley & Sons, 1978. [ Links ]
HICKMANN, M., ed. Social and functional aproaches to language and thought. New York, Academic Press, 1987. [ Links ]
HORTON, D.L.; MILLS, C.B. Human learning and memory. Annual Review of Psychology,v.35, p.361-94, 1984. [ Links ]
JOHNSON, M.K.; HASHER, L. Human learning and memory. Annual Review of Psychology, v.38, p.631-68, 1987. [ Links ]
LASHLEY, K.S. The problem of serial order in behavior. In: JEFFRESS, L.A., ed. Cerebral mechanism in behavior. New York, John Wiley & Sons, 1951. p.112-46. [ Links ]
MARR, J. Second-order schedules and the generation of unitary response sequences. In: ZEILER, M.; HARZEM, P., eds. Advances in analysis of behaviour: reinforcement and the organization of behaviour. New York, John Wiley & Sons, 1979. v.1, p. 223-60 [ Links ]
OLIVEIRA-CASTRO, J.M. " Fazer na cabeça:" uso metafórico e negativo. Psicologia: Teoria e Pesquisa, v.8, n.2, p.267-72, 1992. [ Links ]
PAVLOV, I.P. Lectures in conditioned reflexes. New York, International Publishers, 1928. [ Links ]
PETERS, R.S. Brett's history of psychology. Cambridge, M.I.T. Press, 1965. [ Links ]
RYLE, G. The concept of mind. London, Hutchinson, 1949. [ Links ]
SKINNER, B.F. (1974). About behaviorism. New York, Alfred A. Knopf, 1982. [ Links ]
SKINNER, B.F. Science of human behavior New York, Free Press, 1953. [ Links ]
SKINNER, B. F. Verbal behavior. Englewood Clifs, Prentice-Hall, 1957. [ Links ]
STADDON, J.E.R. (1972). Sobre a noção de causa: aplicação ao caso do behaviorismo. Cadernos de História e Filosofia da Ciência, v.4, p.48-92, 1983. [ Links ]
THORNDIKE, E.L. (1932). The fundamentals of learning. New York, AMS Press, 1971. [ Links ]
TODOROV, J.C. Progressos no estudo das bases neurais da aprendizagem. Psicologia: Teoria e Pesquisa, v.7, n.3, p.303-10, 1991. [ Links ]
VYGOTSKY, L. (1934). Thought and language. Cambridge, M.I.T. Press, 1986. [ Links ]
WATSON, J.B. (1924). Behaviorism. Chicago, University of Chicago Press, 1963. [ Links ]
WIXTED, J.T. Nonhuman short-term memory: a quantitative reanalysis of selected findings. Journal of the Experimental Analysis of Behavior, v.52, n.3, p.409-26, 1989. [ Links ]
1 Partes deste trabalho, apoiado pelo CNPq, foram apresentadas na XXI Reunião Anual da Sociedade de Psicologia, Ribeirão Preto (1991), em co-autoria com Gardênia da Silva Abbad. O autor agradece a Domingos Sávio Coelho e Ana Lídia G. Gama pela ajuda na coleta de dados do Experimento 3.













