Serviços Personalizados
artigo
Indicadores
Compartilhar
Psicologia USP
versão On-line ISSN 1678-5177
Psicol. USP v.5 n.1-2 São Paulo 1994
ARTIGOS ORIGINAIS
Um palco de espelhos: narcisismo e contemporaneidade
Stage of mirrors: narcissism and contemporanity
Cristina Freire
Museu de Arte Contemporânea - USP
RESUMO
O artigo relaciona o Narcisismo, traço característico da sociedade atual, com o Museu e a fotografia contemporânea. No primeiro caso discute relações de antagonismo entre o narcisismo e a idéia de permanência inerente ao conceito de Museu. Em seguida apresenta o trabalho de fotógrafas norte-americanas, em especial da artista Barbara Kruger, como expressão crítica dos mecanismos do Narcisismo na produção artística contemporânea.
Descritores: Narcisismo. Museu. Arte fotográfica Imagem Percepção.
ABSTRACT
This paper relates narcisism as a contemporary feature of society with Museums and photography. It first discusses antagonistic relationships between narcissism and permanence, inherent in the concept of Museum, and then the work of Barbara Kruger as the critical expression of narscissistic mechanisms present in contemporary artistic production.
Index terms: Narcissism. Museum Photografic art Imagery. Perception.
O tema do narcisismo, seja através de sua recorrência nos estudos clínicos, seja através de sua importância nos debates interdisciplinares sobre cultura contemporânea, parece apontar para algo extremamente significativo nas sociedades atuais. Alguns autores, como o historiador americano Cristopher Lasch, chegam inclusive a denominar como cultura narcísica o meio no qual vivemos.
Se o nosso "espírito do tempo" parece retomar o mito desse personagem que, ao confundir (ou fundir) sua imagem no espelho d'água, confunde a própria identidade através da não diferenciação eu/outro, a identidade do sujeito contemporâneo é também informada e formada pelas interpretações possíveis desse mito.
Por exemplo, considerando a sociedade americana, o psicanalista Jurandir F. Costa alerta que essa não é uma sociedade psicopatológica. Essa expressão, segundo o autor, significa confundir traços étnicos com traços psicopatológicos. O que ocorre na sociedade americana são justamente certas valorizações, representações e principalmente estratégias para a apropriação desses traços que podem conduzir à psicopatologia.
Porém, cabe a pergunta, quais seriam os aspectos que fundam o narcisismo? Mais do que isso, quais seriam os elementos fundantes da psiquê coletiva na contemporaneidade? Acreditamos que o trabalho de algumas artistas norte-americanas, notadamente através da fotografia, poderá nos ajudar a refletir sobre essas questões.
Antes de mais nada é sempre bom lembrar que é basicamente através das categorias de espaço e tempo que o homem desenvolve a consciência de si e do mundo que o cerca, que constrói sua identidade. Na Psicologia, são clássicos os estudos de Jean Piaget nos quais observa como ambas as noções estão absolutamente interligadas para a criança desde muito cedo. É com o deslocamento do seu corpo no espaço, por exemplo, que a criança desenvolve a noção embrionária do tempo — do antes e do depois. Grosso modo, ambas as noções são fundamentais para o desenvolvimento psíquico humano e articulam-se aos estruturantes básicos da identidade.
Qual o tempo do contemporâneo?
A sociedade contemporânea caracteriza-se por uma temporalidade bastante peculiar. Todo o aparato técnico que nos cerca remete a uma temporalidade que se baseia no instantaneísmo, na brevidade, no tempo presente.
Essa fragilidade (des)estrutura as relações, informando os mais variados níveis da sociedade. Leva, em última análise, ao que Lasch (1987) denominou de Cultura de Sobrevivência.
Dentro dessa imediaticidade, a percepção ganha um novo estatuto. Foi com bastante propriedade que apontou o filósofo alemão Walter Benjamin, já nos idos da década de 30, que uma nova forma de percepção teria se tornado necessária, devido às inovações tecnológicas. Ele referia-se, naquele momento, principalmente, à popularização do cinema, mas a agudeza de seu pensamento o faz bastante atual, se pensarmos nas modificações perceptivas, cognitivas, no limite, referentes à constituição da identidade do sujeito contemporâneo que certos aparatos técnicos, como o vídeo e o computador, são capazes de operar junto ao imaginário.
É senso comum que a sociedade contemporânea é uma sociedade caracterizada pela profusão de imagens. Não é muito difícil constatar a veracidade dessa informação. No entanto, é importante ultrapassar essa constatação inicial e tentar compreender os mecanismos mesmos de formulação e recepção dessas imagens. Voltamos, assim, à nossa questão inicial — o narcisismo — e passamos a indagar como se dá a relação dos sujeitos contemporâneos com as imagens criadas, preservadas e refletidas.
Para o sociólogo da Arte Pierre Francastel, a imagem é uma construção mental que se dá à partir da articulação de três diferentes categorias: o real, a percepção e o imaginário. A categoria do imaginário é significativa aqui, uma vez que engloba o mito e o transcende. Atualiza experiências, baliza o visível possível. O imaginário recorta, seleciona, reconstrói a realidade, em outras palavras re-apresenta a realidade à consciência imprimindo-lhe sua marca histórica, social, geográfica, pessoal, etc.
Se o imaginário se constrói através dessa seleção arbitrária de significados, indagamos qual o sentido de determinadas instituições que permanecem no tempo mas cuja rede de valorações simbólicas se altera invariavelmente.
Tomemos, a título de exemplo, o Museu e a fotografia que são dois clássicos abrigos de vestígios. O Museu, em seu sentido mais lato, é um local de proteção da sacralizada "aura", morte e vida refletem-se aí como as duas faces da mesma moeda. A fotografia, especialmente através dos retratos, é também um refugio da aura. Detemo-nos a olhar por mais tempo, como observa Benjamin (1985), fotos de pessoas, retratos. É como se aguardássemos magicamente que os personagens pudessem nos devolver um olhar. Na fotografia contemporânea segundo as artistas americanas que trataremos aqui, algo de oposto se passa. O desconcerto é que faz com que nossa atenção se detenha. Não mais se trata do reconhecimento de algo quase sagrado, como as fotos das pessoas queridas. A fotografia contemporânea não tem nada de familiar.
Voltar para rever...
Museu. Local de permanência.
O museu parece-nos um ponto privilegiado para a observação da sociedade contemporânea e de sua rede de criação e circulação de imagens. Apesar do primeiro museu (Museu do Louvre) remontar ao sec. XVIII, a função social do museu vem se transformando. Nesse contexto de mudanças, mudam também nossa experiência de duração e permanência, nossa memória do passado e nossa expectativa do futuro.
A fruição rápida e imediata parece ser um denominador comum da relação das pessoas com as obras de arte, com os objetos. Tudo deve ser consumido e de preferência rapidamente. Nessa fruição apressada, o tempo é vivido como prestes a se esgotar. O instante é o que importa. Essa concepção baliza a "mentalidade de sobrevivência".
Dentro desse universo onde o tempo se sustenta na vivência de um presente contínuo, como se daria a experiência com o passado, através dos seus testemunhos materiais, dos objetos que guardam alguns vestígios?
Se o tempo é vivido como prestes a se esgotar, a existência de objetos que ficam parece ser um tanto anacrônica em nossos dias. O Museu é nesse universo cultural de espetáculos passageiros um dos poucos lugares onde a permanência é norma e para o qual o sujeito pode voltar para rever.
Esse sentido de permanência intrínseco ao museu parece favorecer um certo desinteresse do público1...
Numa época na qual o controle remoto pode ser mais interessante que a própria televisão, pois revitaliza a tela com a alteração sucessiva das imagens, a permanência, a estaticidade silenciosa dos objetos revestidos da aura museológica impõe-se, portanto, no contra-fluxo dessa sensibilidade contemporânea.
Para Adorno (1962) o qualificativo museal tem sua origem na palavra mausoléu, o que indica uma forma de relação com as obras.
Qual o sentido da morte nesse contexto?
Sem indagarmos do ponto de vista do objeto que foi retirado forçosamente de seu meio original (objetos arqueológicos) ou da presença de seu criador (obras de arte), indagamos qual o sentido de vê-lo em exposição nos museus. Mais uma vez a noção de permanência revela e oculta uma certa idéia de morte.
Retornando ao ponto de onde partimos, lembramos aqui a etimologia da palavra Narciso (narke) — de onde vem narcose. São narcisos as flores que se plantam sobre os túmulos e essas flores significam o entorpecimento da morte, "mas uma morte que não é senão um sono" (Chevalier, 1991).
Essa morte como entorpecimento revela algumas nuances, especialmente tratando-se da ambiguidade do sentido do tempo vivenciado pelo sujeito contemporâneo. Se o tempo atualmente é vivenciado através de uma ênfase no presente (aqui e agora), também os exercícios da memória, possibilitados apenas através da experiência imaginária de outros tempos e lugares são prejudicados.
Sem a revitalização da existência através de um alargamento do campo da experiência individual, possível pelas viagens da memória e pelos vôos da imaginação, a existência humana limita-se ao provável, às expectativas previsíveis da sociedade de massas.
Desconhecendo os limites mais amplos do possível, a permanência dos objetos no museu sugere a idéia de morte.
Confundir a permanência dos objetos com sua própria incapacidade de ir além deles, tomá-los como ponto de partida para outras divagações e associações, poderia ser uma nova versão da confusão que causou a morte de Narciso, ou seja, a confusão ou indiferenciação entre sujeito e objeto.
Áo confundir a sua imagem, fugaz e artificial, com sua figura, lança-se no espelho d'água realizando através de sua própria morte essa fusão, provocada por uma não diferenciação inicial.
Os objetos expostos no museu são percebidos, não raro, como mortos — vide o qualificativo tão popular quanto pejorativo: peça de museu. Não estaria ocorrendo aí, em nível imaginário, uma indiferenciação entre sujeitos e objetos? Isso parece possível se considerarmos o rebaixamento sensível que caracteriza os tempos em que vivemos, onde a sensibilidade individual perde terreno para os artifícios forjados pela sociedade de consumo e a percepção torna-se quase estática, incapaz de romper com o imediato, torna-se necrosada, amortecida.
Assim, os sujeitos contemporâneos sentem-se ou comportam-se como se estivessem irremediavelmente impossibilitados de desligarem-se de um mundo de imagens artificiais, modelado segundo interesses ditados pela sociedade de consumo. Em outra palavras, o que lhes resta é, portanto, a impossibilidade de se ver fora de tudo isso e confundem a estaticidade dos objetos expostos nos museus, por exemplo, com sua própria incapacidade de tomá-los como aliados e resgatar através deles sua própria história e sensibilidade.
Se vivemos no tempo dos objetos, como já anunciou Baudrillard (1991), seguimos seu ritmo e, mais do que isso, protagonizamos uma inversão de valores. Em todas as civilizações anteriores a nós, eram os objetos os monumentos perenes que sobreviviam às gerações. Atualmente, somos nós que os vemos nascer, reproduzirem-se e morrer.
Em outras palavras, torna-se muito difícil o resgate da próprio sentimento de humanidade, passível de articular passado e futuro através da relação sensível com os objetos que duram.
Sem reconhecer-se integralmente nos objetos que testemunham histórias, sem a possibilidade de narrar, de compartilhar com seus semelhantes suas experiências de vida, o sujeito empobrece. Walter Benjamin, preocupado com os caminhos da sensibilidade, reflete sobre o valor de nosso patrimônio, se a experiência não mais os vincula a nós.
Devemos, portanto, reconhecer que as mudanças na sociedade impuseram profundas modificações ao psiquismo individual, introduzindo uma articulação recorrente entre narcisismo e contemporaneidade.
Fotografia contemporânea: aparições e falsas aparências.
No cenário artístico contemporâneo é possível identificar alguns artistas que tomaram como elemento central de suas poéticas os ideais forjados pela sociedade de consumo, produtora de imagens e reprodutora de valores.
Nesse universo saturado de imagens, a fotografia (antes aclamada por sua fidelidade de registro, hoje acusada muitas vezes por sua manipulação do real) é utilizada como meio de manipulação de informações, especialmente através da criação de mundos fantasiosamente artificiais, como, por exemplo, as imagens da propaganda.
Alguns artistas partem desse repertório recorrente no imaginário urbano para subverter seus códigos, criticar a unicidade de suas mensagens, lançando-as no terreno da ambiguidade criativa. Subvertem qualquer relação de submissão ao poder das imagens, recriando através dos mesmos artifícios imagens repetidas à exaustão, clichês, outros duplos, redimindo-os para novos sentidos.
Algumas artistas, não por acaso norte-americanas, trabalham dentro dessa poética. Articulam a imagem a uma rede de significados que denunciam as estratégias de re-criação de um mundo artificial. Se o Museu privilegia a preservação dos objetos tornando-os uma categoria pedagógica pela sua permanência, a fotografia contemporânea que analisamos aqui através do trabalho dessas artistas opera pelo oposto. Revela a fugacidade, a falsidade das imagens, em sua manipulação dos sentidos sempre cambiantes.
A fotografia é o meio privilegiado de operações para artistas como Sherrie Levine que brinca com a sacralização da autoria, com o falso e verdadeiro da criação, fotografa obras de outros artistas e coloca sua assinatura. Cindy Sherman cria personagens para si mesma, fotografa incessantemente suas inúmeras personas que vão de anônimas bibliotecárias, domésticas, passando por personagens de filmes norte-americanos da década de 50 cheias de glamour, ou ainda figuras saídas das telas de pintores clássicos. O tempo e o espaço são abstrações paras as falsas construções que faz de si mesma.

Jenny Holzer esvazia a palavra, utiliza sentenças inteiras para resgatar um sentido atropelado pelo seu esvaziamento de significado provocado pelo processo de desinformação dos signos. Brinca com as letras como se fossem peças de armar.
Mas é em Barbara Kruger que podemos observar como trabalha o oposto do processo de sacralização de objetos dotados de aura, "museais", permanentes. A sua operação tem correspondências com as fórmulas dos antigos feiticeiros que faziam do veneno o seu antídoto. Essa artista vem manipulando as imagens saturadas da comunicação de massas, são figuras repetidas à exaustão que já deixaram num passado muito longínquo a figura do seu criador... São figurinhas banais, impressas em embalagens de coisas as mais variadas, estampas de domínio público, figuras vulgares que são aumentadas e justapostas a dizeres com assertivas agressivas e frases certeiras. Como setas pontiagudas essas imagens/textos certamente tem um alvo que pretende ser você, eu, todos nós. Absortos que estamos por essa realidade imaterial absolutamente "naturalizada" suas frases soam como avisos, tão breves quanto ameaçadores. "Você não é você mesmo"; "Nós não precisamos de outro herói" ou ainda "Seus momentos de alegria tem a precisão de estratégias militares" são algumas das sentenças do repertório de Barbara Kruger.
As imagens clichês que funcionam como elementos de estruturação dos ideais de conduta e aparência e modelam o ego-ideal na sociedade de massas são justapostas a essas frases que subvertem o seu sentido imediato. O vermelho, cor que serve de fundo às palavras, não deixa dúvidas: é preciso resgatar e reverter a ordem das representações que cotidianamente modula as sensibilidades na média medíocre.
Não é possível deixar de pensar na dimensão política de seu trabalho, mas seria possível trabalhar com o "veneno" sem se vacinar?
O suporte de seus trabalhos são os mais variados: camisetas, sacolas, frascos de leite e out-doors. Na rua, origem e fim de seu trabalho, desperta o olhar do passante acostumado a ler mensagens unívocas.
A permanência no museu parece assustar essa criadora de retratos fugazes. Suas obras devem se misturar ao mundo, confundirem-se com o cotidiano, cumprindo no breve período de sua existência o destino dos objetos na contemporaneidade: serem consumidos rapidamente.
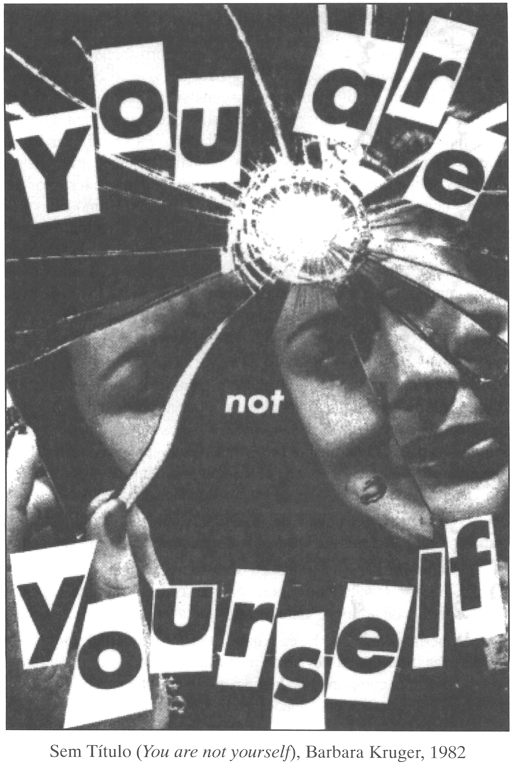
No entanto os trabalhos de Kruger propõem contra-mensagens, são ruídos na comunicação uníssona da propaganda que forja ideais de conduta e aparência. Utilizando-se das imagens da comunicação de massas, imputa-lhes uma nova retórica, estende seu significado originário através de suas montagens.
Mais do que a fugacidade do tempo, a relação imagem/texto aí adulterada pela intervenção artística subverte qualquer possibilidade de identificação.

Em 1992, Barbara Kruger esteve no Brasil realizando um trabalho em São Paulo. Nos seus out-doors espalhados pela cidade via-se um homem examinando uma mulher através dos olhos. A frase "Mulheres não devem ficar em Silêncio" em fundo vermelho contrastava com a imagem em preto e branco. Nos cantos lia-se em letras miúdas "seu corpo é um campo de batalha". A temática feminina (ou feminista) teve um alento, mesmo que temporário nesse trabalho.
Como símbolos de nossa época — as suas obras — assim como o suporte que utiliza para realizá-las: out-doors, camisetas ou mesmo as instalações estão sob o signo da transitoriedade. Dizem um pouco de nossa fragilidade. São como cacos cortantes de um espelho quebrado para os que se acostumaram a vislumbrar a própria imagem apenas reluzindo nas vitrines polidas das lojas e que, não raro, encontram, através desse reflexo fugidio, uma breve felicidade instantânea.
REFERÊNCIAS BIBLIOGRAFIAS
ADORNO, T. Museo Valéry-Proust.Barcelona, Ariel, 1962. [ Links ]
ARANTES, O.B.F. Os novos museus. Novos Estudos Cebrap, n.31, p.16-9, out. 1991. [ Links ]
BAUDRILLARD, J. A sociedade de consumo. Lisboa, Edições 70, 1991. [ Links ]
BENJAMIN, W. Magia e técnica, arte e política. São Paulo, Brasiliense, 1985. (Obras escolhidas, v.1). [ Links ]
CHEVALIER, J. Dicionário de símbolos. Rio de Janeiro, José Olympio, 1991. [ Links ]
COSTA, J.F. Violência e psicanálise. Rio de Janeiro, Graal, 1986. [ Links ]
FRANCASTEL, P. Imagem, visão e imaginação. São Paulo, Martins Fontes, 1983. [ Links ]
KRUGER, B. Love for Sale: the words and pictures of Barbara Kruger. Texts by Kate Linker. New York, Harry Abrams, 1990. [ Links ]
LASCH, C. O mínimo eu: sobrevivência psíquica em tempos difíceis. São Paulo, Brasiliense, 1987. [ Links ]
1 Consideramos aqui para essa afirmação o caso do Brasil onde os museus não estão articulados de maneira tão forte á industria do turismo, e sua frequentação não é hábito corrente para a maioria da população.













