Serviços Personalizados
artigo
Indicadores
Compartilhar
Trivium - Estudos Interdisciplinares
versão On-line ISSN 2176-4891
Trivium vol.11 no.1 Rio de Janeiro jan./jun. 2019
http://dx.doi.org/10.18379/2176-4891.2019v1p.46
ARTIGOS TEMÁTICOS
Reverberações éticas da ferrugem no cinema de Harun Farocki
Ethical reverberations of rust in Harun Farocki's cinema
Réverbérations éthiques de la rouille dans le cinéma de Harun Farocki
Luiz Henrique GraffI; Simone Zanon MoschenII
IPsicólogo. Mestrando do Programa de Pós-graduação em Psicanálise: Clínica e Cultura da Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Rua Ramiro Barcelos, 2600, Porto Alegre, RGS. Telefone 33085066. E-mail: graff.luiz@gmail.com
IIPsicanalista. Professora do Pós-graduação em Psicanálise: Clinica e Cultura (UFRGS) e do Pós-graduação em Educação (UFRGS). Bolsista produtividade do CNPq. E-mail: simoschen@gmail.com
RESUMO
Este trabalho investiga, na obra cinematográfica de Harun Farocki, elementos para refletir sobre os modos de produção da imagem, especificamente sobre suas condições de produção. Nessa via, pergunta pelo estabelecimento de uma imagem capaz de fazer furo na maquinaria, funcionando, assim, como ferrugem e denunciando a maquinaria da constituição da subjetividade. Procuramos também refletir sobre imagens que poderiam criar um anteparo ao assujeitamento, buscando compreender onde residiria a potência que têm certas imagens de interrogar a contemporaneidade.
Palavras-chave: PSICANÁLISE; HARUN FAROCKI; FERRUGEM; IMAGEM; CINEMA.
ABSTRACT
This work investigates, in Harun Farocki's cinematographic work, elements to reflect upon the modes of image production, specifically on its conditions of production. In this regard, it inquires on the establishment of an image able to make a hole in the machine, functioning, this way, as rust and denouncing the machine of the subjectivity constitution. We also try to reflect on images that could create a bulkhead against subjectification, in an attempt to understand where the power of certain images of contemporaneity interrogating would lie.
Keywords: PSYCHOANALYSIS; HARUN FAROCKI; RUST; IMAGE; CINEMA.
RÉSUMÉ
Ce travail étudie, dans l'œuvre cinématographique de Harun Farocki, des éléments permettant de réfléchir sur les modes de production de l'image, en particulier sur ses conditions de production. De cette manière, il demande la mise en place d'une image capable de percer la machinerie, fonctionnant ainsi, comme une rouille et dénonçant la machinerie de la constitution de la subjectivité. Nous essayons également de réfléchir sur des images qui pourraient créer une cloison pour la soumission, en essayant de comprendre où se trouverait le pouvoir de certaines images d'interroger la contemporanéité.
Palabras clave: PSYCHANALYSE; HARUN FAROCKI; ROUILLE; IMAGE; CINÉMA.
Quando há ferrugem, no meu coração de lata!
É quando a fé ruge, e o meu coração dilata!
(Quando a Fé Ruge - Daniel Santiago, Fernando Anitelli e Gustavo Anitelli)
Introdução
Em "Experiência e pobreza", Walter Benjamin (1933/1987) dirá que uma nova forma de miséria surgiu com o monstruoso desenvolvimento da técnica. Para o filósofo, uma angustiante riqueza de ideias, proveniente das mais diversas áreas do saber, difundia-se entre as pessoas; tal proliferação não redundava, porém, em uma renovação autêntica, antes, sim, operava uma galvanização dos saberes. Essa galvanização, em sua proposição, alimentava a miséria humana e dela se alimentava.
Para Benjamin, algumas das melhores cabeças de seu tempo já se haviam começado a ajustar a essas questões urgentes, ligadas à situação política da época. A característica delas era uma desilusão radical com o século em que viviam, ao mesmo tempo que dedicavam àquele século uma total fidelidade.
Neste artigo, buscaremos refletir sobre o que pode esburacar essa galvanização, o que pode fazer ferrugem, introduzir a dúvida, a vacilação, no que se apresenta instituído, não como verdade do sujeito, mas como verdade absoluta. Objetivamos, em nosso percurso, localizar certa infidelidade simbólica e, ao mesmo tempo, situar alguns pontos da fidelidade imaginária.
Georges Didi-Huberman (2015a), em prefácio ao livro Desconfiar de las imágines, de Harun Farocki, dirá que o método do cineasta consistia em elevar o próprio pensamento até o nível da raiva e elevar a própria raiva até o nível do trabalho, tecendo, assim, uma obra que consistisse em questionar a tecnologia, a história e a lei, para, então, permitir-nos abrir os olhos para a violência do mundo que aparece inscrita nas imagens.
Desejamos, neste percurso, não as fórmulas, mas o encontro contingencial com os pontos sensíveis. Os pontos sensíveis em cada imagem apresentada. Nosso caminho - método - tem como bússola a pesquisa psicanalítica, cujo ponto de partida se situa na tentativa de enunciar o que, da ignorância, pode servir como motor de uma busca - não propriamente de uma resposta, mas de uma forma mais larga e qualificada de perguntar.
Lo Bianco (2003) aponta que o objeto da psicanálise, a saber, o sujeito do inconsciente, não é passível de ser objetivado ou quantificado, como o objeto da ciência positivista. O inconsciente não é apreendido senão por seus efeitos de estranheza sobre o discurso do sujeito, conclui ela. Logo, não se trataria então de aplicar um método a um objeto delimitado a priori numa pesquisa de campo.É justamente no campo da práxis analítica que se constitui o método de pesquisa em psicanálise, assim como se contorna seu objeto. Escrevemos e colhemos os efeitos. Como um analista-pesquisador, tomaremos uma posição na qual a associação livre também será regra fundamental.
Recolheremos aqui imagens preexistentes, recortando-as, reordenando-as, para desenhar uma nova possibilidade de vislumbrá-las. E o faremos a partir do trabalho e do pensamento do cineasta Harun Farocki. Segundo Duarte (2004), a escrita fílmica de Farocki se assumirá como um trabalho de arqueologia sobre as constelações de imagens e as suas transformações, sobre os discursos que as fundam, recombinando fragmentos e textos de proveniência diversa: é da sua junção e confronto - da sua montagem -, que poderá irromper um terceiro espaço, uma nova imagem.
Ferrugem
A ferrugem, em nossa proposição, vem representar a imagem que terá a potência de questionar os fluxos do maquinário que burocratiza todas as instâncias da vida - podendo produzir uma torção nos modos de governo da vida, em suas instâncias totalizantes.
A ferrugem é o que resulta da oxidação do ferro. Esse metal, em contato com o oxigênio, presente na água e no ar, oxida-se, e dessa reação resta a ferrugem a deteriorar pouco a pouco a matéria original. O oxigênio, elemento essencial à manutenção da vida humana, o que faz viver, é justamente o que corrói - inclusive as células do corpo humano.
Faltamos, falhamos: a possibilidade do erro, da incompreensão, do desencontro, é justamente o que pode dar uma nova forma, fazer aparecer uma forma inesperada, um novo olhar, numa nova posição. Entendemos a ferrugem como uma cicatriz a irromper na pele, um ponto de parada; ela se faz notar quando os dedos que mapeiam o corpo se detêm no sobressalto que faz a mão parar e demorar-se naquilo que descontinua a superfície até então lisa. A ferrugem pode guardar a partícula da surpresa, a surpresa a posteriori de como algo pode produzir efeito sobre o sujeito. Surge onde não se espera e, paradoxalmente, contém as dimensões da passagem do tempo e do surgimento do novo.
Recorremos à imagem da ferrugem como modo de figurar a tentativa de cunhar uma ferramenta crítica de corte, uma ferramenta que permita localizar os pontos de articulação que a máquina tenta invisibilizar. Um corte que nos possibilite perguntar: como desmontar a máquina? Se a agulha enferrujada da dúvida penetrar a bolha dos discursos totalitários, pode a ferrugem se instalar no manto cromado e monocromático das maquinarias que tentam governar a vida? Que imagens podem guardar a partícula da surpresa, a partícula da ferrugem? Que imagens têm a potência da retenção de um tempo burocrático e maquinal, para então portarem o convite a um tempo de dúvida, um tempo de separação, um tempo de reconstrução?
Harun Farocki
Havia um cachorro entre todos aqueles seres humanos na cena. E, em nosso primeiro encontro com ela, foi justamente esse cachorro que reteve a atenção. Aqui estamos falando não de qualquer cena, mas de uma das primeiras cenas capturada pelo ser humano em filme:
O filme , dos irmãos Louis e Auguste Lumière (1895), dura quarenta e cinco segundos e mostra em torno de cem empregados da fábrica de artifícios fotográficos de Lyon-Montplaisir saindo da fábrica por dois portões e abandonando a imagem por ambos os lados1 (Farocki, 2015, p. 193, tradução nossa).
Tal cena, como descrita por Harun Farocki, foi escolhida pelos irmãos para testarem sua nova máquina. O objetivo era representar o movimento e, assim, ilustrar a possibilidade de fazê-lo. A cena deu-se, então, como forma de tentar produzir certo controle e conhecimento do que se daria em seu decorrer - a câmera utilizada não contava com um visor e, portanto, não haveria como estarem seguros do enquadre. A escolha pelas portas da fábrica permitiria um enquadre sobre o qual não haveria dúvida do que era possível esperar (Farocki, 2015).

Farocki nos auxilia a destacar esse elemento de previsibilidade, de funcionamento sem percalços da máquina: mesmo desprovidos da possibilidade de um visor que permitisse ao olho humano enquadrar a cena, os irmãos Lumière escolheram um ponto onde era possível saber como ocorreriam os movimentos dos corpos que eles pretendiam capturar: na saída dos operários da fábrica, há o conhecimento de que sairão na hora em que a máquina, ao apitar, lhes permitisse abandonar seus postos. Nessa situação, os corpos estavam sob o controle da máquina, sob o controle do mais novo olhar da câmera. Farocki, inclusive, apontará: "Em 1895, a câmera dos Lumière focou o portão da fábrica e se converteu na precursora das muitas câmeras de vigilância que hoje em dia produzem às cegas e automaticamente uma quantidade infinita de imagens para proteger a propriedade privada"5 (Farocki, 2015, p. 194, tradução nossa).
Sobre esse pequeno filme dos irmãos Lumière a se tornar a primeira câmera de vigilância da sociedade moderna, Mello (2016) dirá que, a partir do trabalho de Harun Farocki, é possível perceber que a câmera posicionada nas saídas das fábricas não ocupe um lugar de fora da fábrica, como poderíamos caracterizá-la, mas que, pelo contrário, será ela própria parte de um mecanismo que constitui a engrenagem política e capitalista envolvida pela fábrica. O espaço da câmera, fora da fábrica, é tornado comum ao espaço da própria fábrica, quando se associa a câmera que filma a saída dos operários a uma câmera do cinema e, ao mesmo tempo, uma câmera de controle, de vigilância (Mello, 2016). O cineasta, dessa forma, dará a ver consequências que, de outra forma, permaneceriam invisíveis pela burocracia do maquinário social. É disso que tratará o documentário A saída dos operários da fábrica (Arbeiter Verlassen die Fabrik, 1995), de Harun Farocki. Documentário no qual nos deparamos com o tal cachorro a que referimos antes.
Nesse curta-metragem, motivado pela comemoração dos 100 anos do cinema, Farocki faz uma montagem com imagens produzidas ao longo da história do cinema, além de imagens institucionais de operários saindo de diferentes fábricas e em diferentes situações. Dessa montagem, ele tentará extrair reflexões sobre a iconografia e a economia da sociedade de trabalho.
Uma vez que justamente a filmagem que inaugura esse centenário será aquela dos irmãos Lumière, Farocki pesquisou durante doze meses para compor A saída dos operários da fábrica, procurando apenas imagens de empregados deixando o seu local de trabalho. No recorte final de seu curta-metragem, além de filmes amadores e desconhecidos, filmes institucionais, entre outros, o roteirista usará trechos de obras como Metrópolis (1926), de Fritz Lang, e Tempos modernos (1936), de Charles Chaplin. Segundo Mello (2016), as imagens serão utilizadas pelo cineasta como recurso estético para formar um discurso ao mesmo tempo ético e ácido, não apenas sobre a situação do operariado a partir da revolução industrial, mas também sobre o papel da práxis do cinema nos seus primeiros cem anos.
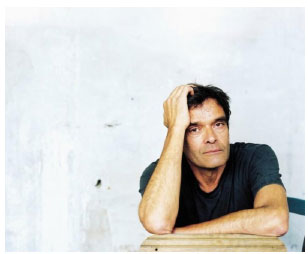
Harun Farocki (1944-2014) foi um cineasta, autor, diretor, ator, professor, roteirista alemão que se acabou destacando em meados dos anos 1980, em seu país, como cineasta experimental, explorando questões de vanguarda no audiovisual. Dirigiu mais de noventa filmes para a televisão e o cinema, porém sua obra cinematográfica acabou exibida em poucas salas comerciais, ficando restrita a festivais de cinema independente e a mostras de cinema underground. Produziu uma obra extensa e de acesso muito restrito que opera entre o cinema, o vídeo e a instalação. Mesmo seus trabalhos feitos para a televisão ou para exposição em circuitos de arte não possuem amplas distribuição e exibição.
Para Mello (2016), Farocki pensa a produção das imagens nas transformações da sociedade contemporânea, a forma pela qual as imagens alteram as práticas e rotinas de trabalho e consumo, e como elas afetam as questões políticas e os aparatos de guerra. Em suas produções, o cineasta sempre trouxe essas reflexões não apenas considerando as tecnologias da visão e da imagem como temas centrais na contemporaneidade, mas utilizando as próprias imagens e o próprio cinema como ferramenta. Jürgen Bock, diretor da Escola Maumaus, diz que Farocki
[...] desejava, sobretudo, interrogar as imagens até o máximo. [...] Mas criando sempre as circunstâncias para o espectador pensar, para tirar as suas próprias conclusões. Nunca insistiu numa verdade, nem na verdade do documentário que, para ele, era também uma manipulação, uma construção (Jürgen Bock, citado por Marmeleira, 2014).
Assim, pode-se dizer que Farocki realizou um trabalho que tenta discutir questões referentes à natureza das imagens, trazendo à tona uma reflexão sobre a cultura audiovisual contemporânea, ou seja, trazendo uma reflexão fundamental sobre a imagem, explorando os efeitos sobre os sistemas de produção industrial, da exploração do consumo, das guerras e das instituições disciplinares. Entendemos o trabalho de Farocki como um trabalho-ferrugem. Uma ferrugem sempre a questionar o processo da maquinaria social, a tentar desmontar suas peças, dar a ver suas engrenagens.
Lembramos aqui o trabalho de Benjamin (2006, p. 505), ao propor a noção de imagem dialética:
Não é que o passado lança sua luz sobre o presente ou que o presente lança luz sobre o passado; mas a imagem é aquilo em que o ocorrido encontra o agora num lampejo, formando uma constelação. Em outras palavras: a imagem é a dialética na imobilidade. Pois, enquanto a relação do presente com o passado é puramente temporal, a do ocorrido com o agora é dialética - não de natureza temporal, mas imagética. Somente as imagens dialéticas são autenticamente históricas, isto é, imagens não arcaicas. A imagem lida, quer dizer, a imagem no agora da cognoscibilidade, carrega no mais alto grau a marca do momento crítico, perigoso, subjacente a toda leitura.
Dessa forma, essa relação dialética será um espaçamento crítico que instaurará a legibilidade de um instante presente e, ao mesmo tempo, o reconhecimento do tempo histórico em que se vive (Costa, 2009). Assim, o passado acaba tornando-se um reservatório, uma consciência difusa, e o que cineastas como Harun Farocki observam é a possibilidade de jogar com esse conjunto de imagens anacrônicas, atuando como uma espécie de curadores, apresentando suas próprias constelações, montagens de tempos e espaços que dão a entender mais o presente do que o passado.
Afinal, a imagem dialética se tratará justamente desse estado de suspensão - poderíamos associar esse estado ao "tempo de compreender" proposto por Lacan (1966/1998) -, de um situar-se diante de um fluxo. E isso não se dará sob o operar de uma ordem linear, mas pela existência de um aspecto obscuro que articula "o ocorrido" e "o agora", imprimindo um salto de temporalidades distintas em que a imagem dialética é o ponto de encontro entre o anacronismo da imagem e a historicidade de que emerge (Costa, 2009).
A potência do trabalho de Farocki, então, percorre o caminho de um questionamento a partir de suas próprias produções de sequência e montagem de imagens de arquivo, reordenando aquilo que temos construído e constituído enquanto imagens unívocas produzidas por essas máquinas de produção de bens simbólicos. O cineasta utiliza o cinema como ferramenta não apenas para registrar e documentar aspectos do mundo e da vida pública, mas para produzir um conjunto de comentários audiovisuais sobre as transformações pelas quais a sociedade vem passando no decorrer dos anos. Didi-Huberman (2015a) apontará que Harun Farocki sempre se questionou sobre o estatuto das imagens, sobre que instituições e artefatos técnicos as produzem e as fazem circular, e sobre seus efeitos de sentido.
Para Mello (2016), Farocki tem a aptidão para proporcionar um novo sentido às imagens que são utilizadas em suas obras. Como consequência, essas imagens adquirem uma nova significação, o que não implica a perda completa do significado intertextual anterior; porém, nessa nova paisagem textual, as cargas crítica e política se produzem exatamente pela separação entre os significados nos contextos original e atual da imagem. Farocki apontará em todo seu trabalho que toda imagem é uma construção, destituindo assim o argumento da manipulação das imagens.
Para Didi-Huberman (2015a), todas as imagens do mundo são o resultado de uma manipulação, de um esforço voluntário no qual intervém a mão do homem. Assim, somente os teólogos sonham com imagens que não teriam sido produzidas pela mão do homem. Dessa forma, a questão não será se uma imagem foi manipulada, mas será como determinar, a cada momento, em cada imagem, o que a mão fez exatamente, como a fez e para quê, com que propósito.
Didi-Huberman explicita a lógica à qual Harun Farocki dá corpo: toda imagem apresenta outra imagem numa complexa rede metonímica ou metafórica. É assim que o cineasta trabalha seus planos de sequência e montagem de imagens de arquivo, ali localizando a potência de uma narrativa que pode se inscrever como abertura significante. Seu trabalho como cineasta mostra-se profundamente politizado e compromissado com a conceituação da imagem e suas leituras. Em sua obra, ele irá discutir a politização do olhar, ao produzir filmes como uma forma de pensamento, na contramão de uma cultura contemporânea massificada, pautada por imagens homogêneas, formatadas em produtos de entretenimento, de informação ou de propaganda.
Farocki nos apresenta a potência da imagem que falta, da imagem estabelecida nos intervalos, nos rasgos do manto monocromático do discurso totalitário. Será assim, na imagem que falta, e não nesta que está aí, que o cineasta encontrará a potência de desestabilizar a maquinaria - veremos isso ao refletirmos sobre duas cenas de dois de seus documentários.
Será na produção de uma imagem que falta, imagem por vezes perturbadora pelo que ela subtrai, que será possível interromper um fluxo, desestabilizar, feito ferrugem, a sequência alienante de um discurso. A imagem, e o que dela falta, possibilita, dessa forma, mediar as questões que um sujeito pode enunciar: uma imagem que venha a furar discurso, esburacá-lo em suas engrenagens, uma imagem que tenha a potência de enferrujar e se transformar em outra coisa. Para Mello (2016), um trabalho na esteira de Harun Farocki será uma tentativa de perceber de que forma as descontinuidades e rupturas das imagens que o cineasta utiliza em sua obra podem ajudar a demarcar algumas regularidades discursivas que possibilitem compreender o contexto em que estamos inseridos.
Como dirá Didi-Huberman (2015a, p. 13, tradução nossa), "não existe uma só imagem que não implique, simultaneamente, olhares, gestos e pensamentos. Dependendo da situação; os olhares podem ser cegos ou penetrantes; os gestos, brutos ou delicados; os pensamentos, inadequados ou sublimes".2 E, assim, sobre a obra de Harun Farocki, Mello (2016, p. 45), apontará que "trata-se de uma reconfiguração incisiva [...], de modo a dar visibilidade àquilo que até então não era visível". Nesse processo, Farocki formulará um pensamento inaudito, gerará conflitos e processos que fazem com que as imagens ocupem outro lugar, articulem uma nova temporalidade. Assim, as imagens deixam de exercer uma simples função de objeto que lhes teria sido designada a priori, passando a produzir relações a partir de suas próprias singularidades (Mello, 2016).
Para Elsaesser (2010), ao justapor imagens opostas, ao repeti-las e sobrepor diferentes análises através da narração, Farocki suspende a imaginação e força a imagem a assumir outra identidade, criando assim outro pensamento para e com essa imagem. Ao gerar um processo de reorganização entre uma imagem e outra, o cineasta acaba por confundir o espectador em relação ao que seria uma realidade estabelecida. Para Rancière (2009), afirmar que as imagens não são apenas representações do mundo, mas acontecimentos e processos que tomarão lugar, agirão e transformarão o mundo, é assumir um posicionamento político: um gesto de colocar-se diante das imagens considerando-as como potências, como uma experiência possível de partilha do sensível.
Como dirá Didi-Huberman (2015a, p. 14),
Para o bem ou para o mal, usamos nossas mãos, respondemos com golpes ou acariciamos, construímos ou destruímos, damos ou tomamos. Diante de cada imagem, o que deveríamos nos perguntar é como (nos) vê, como (nos) pensa e como (nos) toca ao mesmo tempo6.
Entendemos assim a singularidade da obra do cineasta alemão: na escolha das imagens, elas se tornam suas, uma vez que ele está implicado nessa escolha. Com essas imagens - por vezes compondo um cenário aparentemente monocromático, como as imagens de saídas de operários de fábricas ao longo de cem anos -, Farocki vai montando seu discurso até que disso possa surgir uma fenda, uma brecha e, por fim, a ferrugem. Farocki vai montando sua narrativa até que ela permita fazer aparecer um cachorro que atravessa a cena, um puxão de uma saia que interrompe o fluxo bovino de uma dezena de mulheres, bagunçando o discurso previamente organizado. Tomaremos o trabalho de Farocki como paradigmático para fazer operar um raciocínio sobre o que pode fazer ferrugem na maquinaria do cotidiano.
Imagem da Saída dos Operários da Fábrica
Iniciemos por nos deter no fragmento de quarenta e cinco segundos, produzido pelos irmãos Lumière em 1895, que dá início ao documentário A saída dos operários da fábrica, de Harun Farocki. Encontramos ali a figura do cachorro, a reverberar neste escrito. A cena põe em curso o que o autor tenta dar a ver justamente nesse desmonte das imagens, nesse desmonte da lógica da fábrica. Afinal, para Blümlinger (2010), toda atitude política em Farocki passa pela tomada de consciência do autor como produtor, no sentido benjaminiano. Trata-se sempre de "desmitologizar" e "socializar" o autor, para transformar, tal como propõe Benjamin, "leitores e espectadores em participantes". Dessa forma, ao organizar imagens de arquivo preexistentes, Farocki coloca em cheque a autoria das imagens que ali estão, convidando-nos a editar, a partir de nossa posição de espectadores, o filme a que estamos assistindo.
O cineasta toma as imagens já existentes como possibilidade de reorganizar o que é da ordem do visível e de desorganizar o que é da ordem do sensível (Mello, 2016). Assim, entendemos que apontando para a imagem que falta, para o que falta na imagem, para o furo, Farocki desacomoda o sujeito, esvaziando um sentido previamente estabelecido, criando a possibilidade de novas significações. Tal lógica de trabalho, tal lógica de corte, é visível quando, pelo cineasta, são retomadas imagens de operários saindo de seus postos de trabalho.
Na cena filmada pelos irmãos Lumière, em apenas quarenta e cinco segundos, cerca de cem funcionários rapidamente abandonam seus postos após o apito da fábrica que anuncia o fim de mais uma jornada de trabalho. Como já dito, por não haver o visor para enquadrar a cena, essa situação é escolhida por conta de o enquadre já estar, de alguma forma, previamente estabelecido: sabe-se que, apenas depois do apito, os corpos deixarão a fábrica; sabe-se que seus corpos sairão pelos portões que a fábrica lhes indica. Ali, acredita-se que os corpos estão sob controle.
E, na leitura da forma como a imagem dos irmãos Lumière foi concebida, a desmontagem já se instaura dentro dessa primeira cena, da primeira imagem - detalhe por detalhe, quadro por quadro. Farocki, como ele próprio diz em vários de seus ensaios, detém-se com grande esmero para indicar aquilo de singular que, fora do lugar esperado, produz um furo no saber. O cineasta, assim, ao mesmo tempo que localiza a incrível câmera que captura movimentos humanos como inserida na lógica dos processos de trabalho da fábrica, indica o ponto onde essa lógica manca, onde a máquina vacila por atravessar uma zona em que a ferrugem se faz presente. O novo da câmera a capturar o mesmo da saída da fábrica; o mesmo da saída da fábrica deixando-se atravessar pelo movimento que dela não faz parte, que parasita esse deslocamento e que, em sua inutilidade, denuncia o que ali há de humano.
Dirá Farocki (2015) que quase tudo que ocorreu nas fábricas nos cem anos em que o cinema existe, entre palavras, olhares e gestos, escapou às representações cinematográficas. Assim,
Tudo o que constitui uma vantagem do modo de produção industrial diante dos outros: a divisão do trabalho em etapas mínimas, a repetição constante, um grau de organização que quase não requer tomadas de decisão individuais e concede ao indivíduo um mínimo campo de ação, tudo isso dificulta a aparição de fatores inesperados para a construção de um relato3 (Farocki, 2015, p. 195, tradução nossa).
Farocki é nevrálgico em seu apontamento - apontamento este, feito com uma agulha enferrujada, poderíamos dizer - de que a máquina que organiza o discurso de controle dos corpos, com o propósito de deixar o campo de ação do sujeito cada vez mais reduzido, será a mesma que enquadrará a cena filmada pelos irmãos Lumière.
É nesse sentido que, como já apontamos, toda a programação do enquadre dos irmãos será lida por Farocki (2015) como aparição da primeira câmera de vigilância da modernidade. No entanto, é também o cineasta que, em sua montagem, sublinha os acontecimentos que, dentro desse enquadre, jamais poderiam ser previstos, controlados. Há algo do sujeito que irrompe na cena. Em um enquadre no qual havia a crença de que tudo estava sob controle, há algo da cena que escapa à montagem previamente estabelecida e estruturada.
Numa fila para o fim de mais um dia de trabalho, onde os corpos se alinham em movimento, surge um cachorro correndo, saltitando, aparentemente ao lado de seu amigo humano. Os dois se dirigem apressados para fora do enquadre da câmera como se soubessem onde as coisas poderiam se estabelecer de forma menos enclausurada.
O cachorro, esse que se vira na rua, que encontra seu lugar, mesmo quando não tem dono ou lar, esse que se encosta no ser humano, vem causar um estranhamento na cena quase hipnótica dos corpos que atravessam os portões. E talvez seja nessa surpresa, nessa irrupção, que o humano da cena possa ser encontrado: um cachorro no meio de corpos humanos a apontar a condição humana. Talvez não haja nada mais humano do que a presença de um cachorro.
Em A saída dos operários da fábrica, Farocki não fará menção dessa personagem sobre a qual discorremos aqui, mas será justamente desse método que beberá para compor seu documentário:
Entre as estratégias estéticas adotadas por Farocki, estão o uso de imagens congeladas, imagens em câmera lenta, a repetição constante das imagens a fim de retomá-las em diferentes interpretações e o foco detalhado em pontos específicos das imagens que poucas vezes são notadas em uma visualização não muito atenta (Mello, 2016, p. 103).
Dessa forma é que o cineasta nos permitirá esse (des)encontro com a condição de humanização que o atravessamento faceiro do cachorro pode conferir à cena da saída da fábrica. Outro acontecimento torna-se visível na montagem oferecida por Farocki: em um momento específico do filme dos irmãos Lumière, o cineasta congela a imagem e focaliza em detalhe uma das operárias puxando a saia de outra funcionária.
Farocki, ao mesmo tempo que nos mostra a alienação das funcionárias ao movimento necessário - a marcha veloz na saída da fábrica -, oferece ferramentas que nos permitem desarticular essa necessidade, indicando o que não é inferno no meio do inferno. Dessa forma é que nos apontará a imagem dessa mulher, no meio de tantos outros corpos que deixam a fábrica, a puxar a saia de uma companheira de trabalho, que também se dirigia para fora da fábrica. Sua lente permite ver a outra cena dentro da cena previamente estabelecida. Em seu trabalho de montagem com imagens de arquivo, ao apontar dentro da cena aquilo que rompe sua sequência lógica, é como se o cineasta denunciasse a ilusão de uma necessidade em que a maquinaria nos faz crer. Farocki impregna-nos, enquanto espectadores, de uma lógica que organiza a cena e, então, apresenta algo que corta a sequência, que rompe a repetição. Ao atentar para a imagem que há dentro da imagem, ele permite um deslocamento do espectador que abre espaço para o questionamento daquilo que se antecipava como o próximo quadro na cena.
Na fila bovina de corpos humanos que saem da fábrica, daremos conta da apreensão de uma imagem, de um signo que por vezes nos dá os ares do que poderia ser entendido como realidade. Ao mesmo tempo, porém, Farocki apontará para o que há de Real na cena do mundo: aquilo que será impossível de antecipar e que, uma vez compartilhado e validado pelo espectador, passará a compor a cena do mundo - em um movimento com abertura infinita. Harun Farocki, com seu cinema, nos permitirá desconfiar das imagens.
Uma (Não) Imagem de Guerra
Farocki nos ensina a desconfiar das imagens. Mais do que isso, ele, na arquitetura de seu cinema, opera uma triangulação que permite ao espectador aproximar-se de imagens que carregam uma potência traumática mantendo seus olhos abertos. A montagem por ele operada convoca o olhar em uma angulação deslocada, permitindo que o sujeito permaneça diante da cena e nela encontre o seu lugar.
Para Sontag (2003), ser espectador das calamidades ocorridas em outro país tornou-se uma experiência moderna essencial, espécie de dádiva acumulada durante mais de um século e meio graças aos "turistas profissionais e especializados conhecidos pelo nome de jornalistas" (p. 20). Ela nos aponta que, agora, as guerras também são imagens e sons que habitam a sala de estar de nossas casas. Assim, sofrimentos vividos em guerras distantes tomam de assalto nossos olhos e ouvidos no instante em que ocorrem, mesmo que seja um exagero afirmar que as pessoas saibam o que acontece todo dia em todo o mundo.
Ainda segundo a escritora, essa lógica teria começado a partir da guerra que os Estados Unidos travaram no Vietnã, a primeira a ser testemunhada dia a dia pelas câmeras de televisão. A população civil americana foi, nesse momento, apresentada à nova teleintimidade com a destruição e a morte. E, desde então, batalhas e massacres filmados no momento em que se desenrolam tornaram-se um ingrediente rotineiro do fluxo incessante de entretenimento televisivo doméstico. E podemos dizer que não apenas nas televisões da população americana, mas, hoje, em praticamente todo o mundo que possui acesso à luz elétrica e uma televisão. Sontag (2003, pp. 23-24) afirma: "A caçada de imagens mais dramáticas [...] orienta o trabalho fotográfico e constitui uma parte da normalidade de uma cultura em que o choque se tornou um estímulo primordial de consumo e uma fonte de valor".
Mesmo que, no excerto mencionado, Sontag se esteja referindo a fotografias, a lógica se sustenta em outras formas de produção das imagens. É dentro dessa perspectiva que Harun Farocki produz Fogo que não se apaga, seu primeiro filme após o período como estudante universitário. Farocki (2015) aponta que esse documentário reúne duas ideias que vinha elaborando desde 1967. A primeira lhe ocorrera enquanto esperava o trem numa estação de Frankfurt. Entretido nos pensamentos durante a espera, o cineasta lembrou-se de uma piada ouvida nos bancos escolares, quando do pós-guerra: um homem trabalha em uma fábrica de aspiradores e todo dia rouba uma peça; no entanto, quando consegue reunir todas as partes, ao tentar montar um aspirador, não importa quantas vezes tentasse, acabava por construir uma metralhadora. A segunda ideia, que lhe surge na esteira dessa piada, era de que deveria fazer um filme sobre a guerra do Vietnã e a produção de napalm. Isso porque as imagens dessa guerra, principalmente das pessoas queimadas por napalm, eram divulgadas em diversos canais de televisão a cada novo dia.
O filme deveria mostrar que nos países ricos ligamos à noite a televisão e vemos imagens do Vietnã. Observamos pessoas queimadas pelo napalm e não vemos que nós também colaboramos com sua produção. Todos nós trabalhamos em nossas supostas fábricas de aspiradores e não sabemos o que é que se produz com as peças que cada um de nós fabrica7 (Farocki, 2015, pp. 40-41, tradução nossa).
Farocki, como ele mesmo coloca, sentia a necessidade de dar a ver que todas as pessoas colaboravam de alguma forma com as atrocidades da guerra. Movido por essa necessidade, produziu, então, em Fogo que não se apaga, uma investigação sobre os acontecimentos relativos às guerras do século XX, propondo-se a averiguar a relação entre a logística militar e os dispositivos visuais, trazendo para primeiro plano um reflexão sobre as imagens de guerra e seus efeitos midiáticos. Sua obra terá um teor de denúncia, indicando como aspectos muito próximos de nosso cotidiano, como o fato de ligar a televisão, relacionam-se diretamente com táticas e estratégias militares (Mello, 2016).
Vale notar que, no original da passagem citada anteriormente (ver a nota de rodapé 7), o autor se refere ao fato de que, à época da guerra do Vietnã, "encendemos a la noche el televisor" (Farocki, 2015, p. 40). Ora, uma tradução possível para "encendemos" poderia ser "acendemos". Torna-se visível, assim, a relação traçada pelo cineasta entre o fato de "acendermos" nossas televisões para vermos imagens de guerra no conforto de nossos lares e "acendermos" o fogo inextinguível do napalm - nessa sobreposição operada pelo significante "acender", Farocki aponta para uma cumplicidade velada, escondida pela maquinaria das fábricas de guerra. Para Farocki (2015, p. 160, tradução nossa), "a economia, ao menos a dos fabricantes de armas, pede guerras com objetivos humanitários".4 Farocki quer denunciar o caráter sistêmico da guerra que apresenta como resultado uma cadeia de produção na qual todos nós funcionamos como engrenagem.
Então, como dar a ver tal questão, uma vez que apontar para o excesso de imagem apenas nos colocaria diante de mais uma imagem no meio desse fluxo perpétuo de imagens de dor e sofrimento? Em seu apelo de resistência aos conflitos armados, na primeira cena de Fogo que não se apaga, o próprio cineasta encontra-se sentado em frente a uma mesa. Primeiro, começa a ler em voz alta uma carta de um cidadão vietnamita, Thai Bihn Dan, sobrevivente da Guerra do Vietnã, originalmente escrita, após um longo período entre a vida e a morte, para o Tribunal Internacional de Crimes de Guerra de Estocolmo. Na carta, ele descreve os efeitos produzidos em seu próprio corpo decorrentes de ataques de napalm:
Em 31 de março de 1966, às 16 horas, enquanto eu lavava pratos, eu escutei aviões se aproximando. Corri até o abrigo subterrâneo, mas fui surpreendido por uma bomba de napalm explodindo perto de mim. As chamas e o calor insuportável me tomaram e eu perdi a consciência. O napalm queimou o meu rosto, ambos os braços e ambas as pernas. Minha casa também foi incendiada. Eu fiquei inconsciente por 13 dias e despertei em uma cama de um hospital da FNL.8
Após a leitura da carta, o cineasta, à maneira dos melhores filósofos, apresenta-nos uma aporia para o pensamento da imagem (Didi-Huberman, 2015a):
Como podemos lhes mostrar o napalm em ação? Como podemos lhes mostrar as lesões causadas pelo napalm? Se lhes mostrarmos imagens das queimaduras de napalm, vocês fecharão seus olhos. Primeiro fecharão seus olhos para as imagens, então fecharão seus olhos para a memória, então fecharão seus olhos para os fatos e então fecharão os olhos para todo o contexto.
O questionamento de Farocki parece fazer coro com o que nos apresenta Susan Sontag (2003), ao propor a seguinte questão: o que fazer com um conhecimento como o que trazem as fotos de um sofrimento distante?
As pessoas, muitas vezes, se mostram incapazes de assimilar os sofrimentos daqueles que lhes são próximos. A despeito de toda a sedução voyeurística - e da possível satisfação de saber que "isto não está acontecendo comigo, não estou doente, não estou morrendo, não estou metido nessa guerra" -, parece normal para as pessoas esquivarem-se de pensar sobre as provações dos outros, mesmo quando os outros são pessoas com quem seria fácil se identificar (Sontag, 2003, p. 83).
Segundo Mello (2016), Farocki evidencia um problema de representação, um problema do efeito das imagens em uma relação com sua própria condição de falta e de excesso, uma lacuna ou uma disjunção entre o visível e o enunciável. Adverte que ferir o espectador com a exibição crua de corpos consumidos, calcinados e mutilados pelo efeito do napalm, antes de contribuir e manifestar a denúncia dos modos de produção da guerra, em realidade teria um efeito contrário. Diz Farocki, no filme: "Se lhes mostrarmos uma pessoa com queimaduras de napalm, feriremos seus sentimentos. Se ferirmos seus sentimentos, vocês se sentirão como se nós tivéssemos tentado usar napalm em vocês, às suas custas."
Para Didi-Huberman (2015a), essa aporia estará entrelaçada a dois problemas que o cineasta busca apontar em seu documentário: Farocki quer se dirigir aos sentimentos do espectador e quer respeitá-los (problema estético); no entanto, na sequência, esse tato para com os sentimentos dos espectadores se torna um soco linguístico quando Farocki questiona brutalmente a responsabilidade desse mesmo espectador. A câmera foca a mão esquerda de Farocki apoiada por sobre a mesa. Sua mão direita estende-se para fora do enquadre da câmera e retorna com um cigarro acesso, cigarro que será apagado contra seu braço esquerdo. A solução que o cineasta encontra será apagar um cigarro em seu próprio braço. Enquanto pratica tal ato em sua própria carne, o cineasta nos aponta:
Só podemos lhes dar uma pequena amostra de como o napalm funciona. Um cigarro queima a 400ºC. O napalm queima a 3000ºC. Se os espectadores não querem ter nenhuma relação com os efeitos do napalm, então é importante determinar que relação eles já têm com as razões para o seu uso.
Nessa situação, Harun Farocki parece nos mostrar em ato a potência da imagem que falta. Nesse grande desafio de quem trabalha com a imagem, que será "como mostrar", como transmitir algo que efetivamente tenha efeito de incluir e não excluir o sujeito, a imagem é utilizada por Farocki como uma ferramenta crítica de corte.
A cena articulada por Farocki - ao criar um "ponto doloroso", segundo Didi-Huberman (2015a) - articula a resposta do cineasta à questão "como abrir os olhos?". Será uma resposta a como compartilhar conhecimento com alguém que se recuse a conhecer: "Tomar uma posição na esfera pública (mesmo se isso significa intervir em seu próprio corpo e sofrer por algum tempo). Esse é o giro estratégico que, em 1969, representa Fogo que não se apaga na obra de Farocki"9 (Didi-Huberman, 2015a, p. 17, tradução nossa).
Para Didi-Huberman (2015a), Fogo que não se apaga é um filme que combina ação, paixão e pensamento; um filme organizado ao redor de um gesto que surpreenderá. O punho de Farocki, que, a princípio, está apenas descansando sobre uma mesa alocada no interior de um quarto tranquilo e neutro, não está de forma alguma aquiescente em sua fúria. O punho está à espera, tomando uma posição. Ele adota essa posição porque forma parte de uma coreografia muito bem pensada, de uma dialética cuidadosamente elaborada.
O resultado desse tempo resistido de Farocki será a irrupção inesperada de um cigarro a queimar a sua pele. O cineasta insere esse grão de Real, faz irromper, como consequência, uma imagem que tenha a potência de perturbar o outro, de desestabilizar o sujeito. E se Farocki (2015) dirá que essa pequena ação tinha uma intenção iconoclasta, que se dirigia contra a maquinaria cinematográfica, será justamente no valor da subtração da imagem que ele poderá desestabilizar o sujeito.
A ação de Farocki será uma agulhada contra o excesso de imagem de guerra que acaba por cegar as pessoas para determinados acontecimentos. O cineasta produz uma imagem que não produz esquecimento. Em sua pele queimada por um cigarro, na correlação entre o calor do napalm e o calor de um cigarro, o cineasta localizará a existência de algo que jamais poderemos apreender sobre o sofrimento de Thai Bihn Dan, mas que, mesmo sem podermos apreender, será para nós, abrindo os olhos para o acontecido, possível testemunhar. É necessário criar uma imagem com os olhos fechados para que na sequência eles possam ser abertos aos fatos, à história.
O tensionamento operado nesse documentário permite lançar a pergunta "o que é ver?". Farocki talvez consiga apresentar-nos uma imagem que não esteja presente por se conseguir posicionar como Perseu, na mitologia grega, o qual, para enfrentar a Medusa e não ser por ela petrificado, utilizou-se do reflexo que aquela projetava em seu escudo. Seu trabalho nos ensina que existem certas imagens que não podem ser vistas de frente, imagens que precisam de uma triangulação para que nos possamos aproximar delas - assim como o cigarro nos aproxima do napalm.
Considerações finais
Será nessa triangulação, no olhar operado a partir de um ponto terceiro, que poderemos criar uma angulação que nos permita ver. Ver de uma forma que não nos mantenha alienados, colados à imagem, mas que a ela possamos responder com separação. Separação e enlace, numa dobra própria da lógica moebiana - corte e costura - que permita ao sujeito emergir em outra posição.
Diante da imagem, ao olharmos e sermos olhados por ela em uma "pressa demorada",estaremos inevitavelmente diante do tempo. Como dirá Didi-Huberman (2015a), diante de uma imagem antiga, o presente não cessa de se atualizar constantemente, da mesma forma que diante de uma imagem - a mais contemporânea possível - o passado não cessa de se reconfigurar num movimento obsessivo de construção de memória. Para o filósofo, seria impossível (ou pelo menos improdutivo) pensar a imagem sem pensar seu tempo, suas fraturas, seus ritmos.
Dessa forma, entendemos também que o que Harun Farocki faz irromper nas imagens, aquilo que criará a cena, será contemporâneo, apesar de secular. Suas imagens do passado furam o presente. A ferrugem que aqui propomos enquanto metáfora se encontra justamente nessa relação produzida no tempo e com ele: a ferrugem na máquina carrega memória, é a própria memória. A ferrugem, nesse sentido é a percepção humana da passagem do tempo na imagem.
Harun Farocki usa imagens de tempos distintos para produzir uma questão, enferrujando os mecanismos da máquina:
É possível, portanto, dizer que a chave de toda a produção de Farocki é um alerta para a necessidade de aprender a olhar as imagens do mundo. Um gesto que tenta apreender as imagens, entender como elas se relacionam, perceber que estratégias de saber-poder estão ocultas em cada uma delas, além ou aquém de seus respectivos significados. Para ele, não é suficiente que saibamos utilizar, editar e manipular as imagens, mas antes é preciso saber relacioná-las com o nosso conhecimento sobre o mundo, de uma forma inteiramente nova frente a um sistema automatizado e crescente de produção de imagens (Mello, 2016, pp. 153-154).
Diante dessa pequena brasa acesa da imagem queimando na ponta dos dedos da atualidade, somos nós, como aponta Didi-Huberman (2015b), o elemento de passagem. A imagem, esta será ela própria um elemento de duração, carregada de memória e devir.
Buscamos, com essa escrita-ferrugem, indicar um horizonte de reflexão capaz de localizar a realidade como uma produção discursiva: a imagem verdadeira não existe. Diante de cada imagem, trata-se de se colocar em exercício - cujo ponto de chegada se configura num impossível de responder -, perguntar como (nos) vê, como (nos) pensa e como (nos) toca. Trata-se de dar visibilidade àquilo que até então não era visível, pois uma vez que consideramos, na esteira do filósofo, que todas as imagens do mundo são o resultado de uma manipulação, de um esforço voluntário em que intervém a mão do homem, a questão será, justamente, como determinar, a cada momento, em cada imagem, o que a mão fez exatamente, como a fez e para quê, com que propósito (Didi-Huberman, 2015a).
Harun Farocki, em seu trabalho com imagens de arquivo, coloca o espectador numa posição privilegiada. Ele explora as imagens ao limite, ao ponto de furá-las, ao mesmo tempo que expõe seu contexto e retira suas consequências do processo. Seus filmes são um convite a que possamos transgredir, enferrujando alguma parte (mesmo que mínima) desse cromado, colocando-nos na busca da imagem que falta: outra imagem, talvez absurda, que venha a causar uma pequena rasura nas imagens já instituídas. Afinal, o escrito-ferrugem aqui surge de um impossível de dizer, daquilo que carregamos enquanto resto, em nossos corpos, de nossos desencontros. É preciso, no entanto, continuar olhando, é preciso continuar escrevendo, numa "esperança que não se intimida com o risco de não ter a expressão certa, mas que sabe que é preciso novamente continuar escrevendo" (Sousa, 2006, p. 58).
Referências
Benjamin, W. (1987). Experiência e pobreza. In Magia e técnica, arte e política (pp. 114-119). São Paulo: Brasiliense. (Original publicado em 1933) [ Links ]
Benjamin, W. (2006). Passagens. Belo Horizonte: Editora UFMG; São Paulo: Imprensa Oficial do Estado de São Paulo. [ Links ]
Blümlinger, C. (2010). Harun Farocki: estratégias críticas. In Mourão, M. D., Borges, C., & Mourão, P. (Orgs.). Harun Farocki: por uma politização do olhar (pp. 148-161). São Paulo: Cinemateca Brasileira. [ Links ]
Costa, L. B. (2009). Imagem dialética/imagem crítica: um percurso de Walter Benjamin a George Didi-Huberman. In V Encontro de História da Arte - IFCH/Unicamp. Campinas. [ Links ]
Didi-Huberman, G. (2015a). Cómo abrir los ojos. In Farocki, H., Desconfiar de las imágenes. Buenos Aires: Caja Negra Editora. [ Links ]
Didi-Huberman, G. (2015b). Diante do tempo: história da arte e anacronismo das imagens. Belo Horizonte: Editora UFMG. [ Links ]
Duarte, S. N. (2004). O que é uma imagem? A propósito do cinema de Harun Farocki. 2004. Recuperado em 30 de junho de 2017, de http://www.interact.com.pt/memory/interact10/interfaces/interfaces4.html [ Links ]
Elsaesser, T. (2010). Harun Farocki: cineasta, artista e teórico da mídia. In Mourão, M. D., Borges, C., & Mourão, P. (Orgs.). Harun Farocki: por uma politização do olhar (pp. 98-127). São Paulo: Cinemateca Brasileira. [ Links ]
Farocki, H. (1969). Fogo que não se apaga. [Filme-vídeo]. Alemanha. [ Links ]
Farocki, H. (1995). A saída dos operários da fábrica. [Filme-vídeo]. Alemanha. [ Links ]
Farocki, H. (2015). Desconfiar de las imágenes. Buenos Aires: Caja Negra Editora. [ Links ]
Lacan, J. (1998). O tempo lógico e a asserção da certeza antecipada. In Lacan, J., Escritos (pp. 197-213). Rio de Janeiro: Jorge Zahar. (Original publicado em 1966) [ Links ]
Lo Bianco, A. C. (2003). Sobre as bases dos procedimentos investigativos em psicanálise. Psico-USF, 8(2),115-123. [ Links ]
Marmeleira, J. (2014). Morreu Harun Farocki, o cineasta que escrevia diante das imagens. Público. Lisboa. Recuperado em 27 de março, de https://www.publico.pt/2014/07/31/culturaipsilon/noticia/cineasta-alemao-harun-farouk-morre-aos-70-anos-1664975 [ Links ]
Mello, J. G. (2016). Agenciamentos estéticos e políticos no audiovisual contemporâneo: imagens de arquivo na obra de Harun Farocki. Tese de doutorado em Comunicação e Informação, Faculdade de Biblioteconomia e Comunicação, Universidade Federal do Rio Grande do Sul, Porto Alegre. [ Links ]
Rancière, J. (2009). A partilha do sensível: estética e política. São Paulo: Editora 34. [ Links ]
Sontag, S. (2003). Diante da dor dos outros. São Paulo: Companhia das Letras. [ Links ]
Sousa, E. L. de. (2006). Escrita das utopias: litoral, literal, lutoral. Revista da Associação Psicanalítica de Porto Alegre, 31,48-60. [ Links ]
Recebido em: 02/09/2018
Aprovado em: 08/01/2019
Notas:
1 "La película La sortie des usines Lumière à Lyon de los hermanos Louis y Auguste Lumière (1895) dura cuarenta y cinco segundos y muestra a unos cien empleados de la fábrica de artículos fotográficos de Lyon-Montplaisir saliendo de la fábrica por dos portones y abandonando la imagen por ambos lados."
2 "En 1895, la cámara de los Lumière enfocó al portón de la fábrica, y se convirtió en la precursora de las tantísimas cámaras de vigilancia que hoy en día producen a ciegas y automaticamente uma cantidad infinita de imágenes para proteger la propriedad privada."
3 "[...] no existe una sola imagen que no implique, simultaneamente, miradas, gestos y pensamientos. Dependiendo de la situación, las miradas pueden ser ciegas o penetrantes; los gestos, brutales o delicados; los pensamientos, inadecuados o sublimes".
4 "Para bien o para mal, usamos nuestras manos, asestamos golpes o acariciamos, construimos o destruimos, damos o tomamos. Frente a cada imagen, lo que deberíamos preguntarnos es como (nos) mira, como (nos) piensa y como (nos) toca a la vez."
5 "Todo lo que constituye una ventaja del modo de producción industrial frente a otros: la división del trabajo en etapas mínimas, la repetición constante, um grado de organización que casi no requiere toma de decisiones individuales y concede al individuo um mínimo campo de acción, todo ello dificulta la aparición de fatores inesperados para la construcción de um relato."
6 "La película debía mostrar que en los países ricos encendemos a la noche el televisor y miramos imágenes de Vietnam. Observamos gente quemada por el napalm y no vemos que nosotros también hemos colaborado com su producción. Todos trabajamos en nuestras supuestas fábricas de aspiradoras y no sabemos qué es lo que se hace con las piezas que cada uno de nosotros fabrica."
7 "[...] la economía, al menos la del fabricante de armas, pide guerras com objetivos humanitarios".
8 Transcrito conforme legenda disponível na internet juntamente com o documentário Fogo que não se apaga.
9 "Tomar una posición en la esfera pública (aun si eso significa intervenir en el próprio cuerpo y sufrir por algún tiempo). Ese es el giro estratégico que, en 1969, representa Fuego inextinguible en la obra de Farocki."














