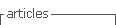Este ensaio trata da construção do livro Gael e o mostro do armário, de minha autoria, escrito a partir da escuta psicanalítica no tempo de predomínio da pulsão de morte, se é que podemos assim nomear o período pandêmico. No trabalho de escuta do inconsciente e na ânsia de oferecer palavras e símbolos às angústias inerentes ao humano na sua condição de desamparo, fui também me construindo escritora. Em 2019 havia escrito meu primeiro livro infantil Ana Lise e o menino de olhos verdes. Em 2022, depois de tanto escutar sujeitos às voltas com suas feridas abertas pela pandemia e de dialogar com meus próprios monstros, nasceu o livro
Gael e o monstro do armário. O enredo é singelo, mas reforça o convite feito pela psicanálise em sua essência: visitar as profundezas do lado sombrio que nos constitui e, por consequência, enfrentar os monstros que lá habitam.
Na minha percepção, literatura e psicanálise falam a mesma língua, talvez pelo fato de ambas produzirem metáforas capazes de servir de lastro nos momentos adversos da vida. Há algum tempo, venho utilizando a literatura infantil de qualidade na clínica, bem como no trabalho de consultoria a uma escola na cidade onde moro, no interior do Rio Grande do Sul. Como sabemos, Bruno Bettelheim foi precursor na sistematização das ideias sobre a importância dos contos de fadas na vida das crianças. Segundo Gutfriend (2020), Bettelheim destaca a importância do conto como um mediador, capaz de permitir à criança elaborar seus conflitos psíquicos, estimulando-a a enfrentar seus afetos mais assustadores e, ao mesmo tempo, ajudando-a a manter uma distância segura desses afetos.
Gutfreind (2020, p. 17) cita Bettelheim (1993):
Os sentimentos que não apreciamos e de que temos dificuldades de falar podem encontrar uma expressão simbólica em um conto de fadas. Nós encontramos o trabalho de distância necessário e, consequentemente, a palavra, porque se trata de um quadro e não ainda o nosso quadro isolado a partir do momento que o compartilhamos com outras pessoas.
Gutfreind (2020), Diana Corso e Mário Corso (2006) e outros psicanalistas contemporâneos concordam que a potência terapêutica da história infantil não somente se restringe aos clássicos contos de fadas, mas também às boas histórias atuais. Afinal de contas, somos subjetivamente construídos pelas histórias vividas, contadas e compartilhadas.
Na obra O lobo e o terapeuta, Gutfreind (2020) nos ensina que o conto já contém em si um aspecto terapêutico, na medida em que as crianças, por meio dos personagens e das tramas podem expressar seus afetos e dar significados às mais diversas situações experimentadas. Destaca que o valor das histórias também reside em auxiliar a transformar em fantasias representáveis o conteúdo inconsciente, abrindo dimensões imaginárias. “Esses benefícios estimulam as representações conscientes, diminuindo a nocividade das pulsões e do conteúdo inconsciente” (Gutfreind, 2020, p. 16).
Ainda segundo o autor, uma das formas como o conto enriquece a vida psíquica reside no estímulo a abrir um espaço lúdico de criação, no sentido com que o psicanalista Pavlovsky (1980) desenvolveu esse conceito, ou seja, o espaço no qual, a partir da combinação de imagens, de jogos, de ilusões, a criança poderá jogar, inventar, criar, olhar, de outra forma o concreto, guardando-o como um local interno onde poderá sempre se refugiar nos momentos mais difíceis da vida. Esse aspecto também é passível de ser relacionado com o conceito de espaço potencial e objeto transicional desenvolvidos por Winnicott (1971).
Dunker (2018) coloca que “é no limiar entre a realidade e a imaginação que a gente quer que as crianças deslanchem, porque é aí que mora a capacidade de criação”. Ao longo da pandemia, pude perceber, tanto no exercício da clínica quanto em outros espaços onde circulo, em que os indivíduos mais enriquecidos internamente lançaram mão de menos sintomas no enfrentamento das adversidades impostas pelo momento.
Gael, o medo e os monstros que nos habitam
Autores como Agnès Rassial (1996) e Hecker Filho (1976) confirmaram a ideia de que nenhum sentimento é tão importante e sedutor na literatura infantil quanto o medo, e nenhum benefício é maior do que a sensação de controlá-lo (Gutfreind, 2020, p. 122).
O brincar e a literatura, enquanto ferramentas capazes de alimentar a dimensão psíquica, podem nos ajudar a enfrentar esse afeto tão presente desde a mais tenra infância. “A coragem é a travessia do medo”, nos diz Dunker (2018), não a ausência dele. Gael, personagem do livro, é atormentado por inúmeros medos e, através de um sonho, encontra a fada Ana Lise, que o encoraja a abrir seu armário e conversar com o monstro que ele acredita morar dentro dele. Ana Lise é personagem do meu primeiro livro e seu nome faz uma alusão à palavra “análise”. “É preciso coragem para conversar com os monstros”, diz a fada para Gael. Por meio da psicanálise sabemos que, diante da negação do medo ou da falta de recursos para nomeá-lo, pode surgir uma angústia aparentemente intransponível.
Segue trecho da narrativa (Fochesatto, 2022, p. 13-21) que contém o diálogo que criei entre Gael e o monstro:
– Oi, Gael, sou o monstro do armário, mas às vezes estou em outros lugares também.
– Você fala?
– Sim e não sou tão assustador quanto você pensa.
– Você vai me engolir?
– Não, não me alimento de pessoas, mas dos medos delas. Por isso sou grande. Você sente medo de tudo e seu medo tem me deixado cada vez maior. Diga-me: qual o maior de todos os seus medos? Além do medo de mim, é claro.
– Hum, meu maior medo é me perder do meu pai e da minha mãe, de nunca mais vê-los, de ser esquecido, abandonado.
– E você já falou desse medo para eles? perguntou o monstro.
– Não, nunca falei, disse Gael.
– Então vou contar um segredo: o melhor jeito de se livrar de um medo é não guardar ele só para você.
– Tenho medo de contar meus medos, podem rir de mim ou me acharem esquisito.
– Ahhhh! menino Gael, você acha que só você sente medo?! Ei, olha só, o seu medo de contar os medos já está me fazendo ficar ainda maior.
Vendo o monstro aumentar de tamanho de repente, Gael desatou a falar de outros tantos medos que sentia. Era medo de avião, de cachorro, de altura, do escuro, de fantasma, de vampiro.
Dali em diante, todos os dias, Gael conversava sobre seus medos com o monstro do armário que, às vezes estava embaixo da cama e, outras vezes, atrás da porta. E, surpreendentemente, a cada dia, o monstro diminuía de tamanho.
Em março de 2020, um vírus se espalhava pelo mundo e rapidamente angariava o status de pandemia, cutucando nossa sanidade mental e alimentando nosso desamparo. Até mesmo “os donos” de um psiquismo mais saudável passaram a apresentar algum tipo de sintoma. Entre os afetos mais mencionados, o medo, parte indissociável da natureza humana, se fazia ainda mais presente, agudizado e personificado no medo de morrer e de perder quem se ama; não somente no campo da fantasia, mas sustentado pelo real que se presentificava entre nós.
Vivemos, durante aquele período, uma espécie de trauma social, já que não tínhamos representação simbólica no psiquismo de como enfrentar uma pandemia. Em meados de março de 2021, período em que muita gente morreu por falta de atendimento médico-hospitalar no Brasil e, em meio a uma política negacionista/mortífera, depois de um dia tenso no consultório, escrevi:
Meu trabalho se ocupa essencialmente da escuta da dor do outro. Não sou profissional da tal linha de frente, mas hoje me pergunto: onde me situo em meio à catástrofe humanitária que vivenciamos? Talvez na linha do meio, na medida em que escuto os dois lados de um fio tênue que une, de um lado, os profissionais da saúde, exaustos e destroçados pela impotência, e de outro, pessoas devastadas pela perda de familiares atravessando lutos sem despedidas. Sigo oferecendo minha escuta analítica, cuidado e solidariedade para que juntos, possamos construir narrativas do trauma que nos atravessa (Fochesatto, 10 mar. 2021).
Guimarães Rosa (1986, p. 55), em seu Grande sertão: veredas, nos ajuda a nomear o medo:
O que é o medo? Um produzido dentro da gente, um depositado; e que às vezes se mexe, sacoleja, e a gente pensa que é por causas: por isso ou por aquilo, coisas que só estão fornecendo espelho. A vida é para esse sarro de medo se destruir, jagunço sabe.
Medo que tomava conta do corpo e se fazia presente de diversas formas, em especial, no exercício da clínica; que como bem sabemos, precisou ser reinventado. Passei a escutar frases que reverberavam em mim, mesmo depois de acabadas as sessões.
A seguir, trago algumas delas:
– Desde que meu avô morreu, eu acordo de manhã e fico pensando se será meu último dia (V., 9 anos).
– Será que ele morreu mesmo? Só ouvi o barulho do saco plástico, não pude me despedir, pergunto ao meu filho dez vezes ao dia se ele realmente viu o pai morto! (G., 55 anos).
– Tive que entubar um paciente de 29 anos ontem (K., 26 anos).
– Quando isso vai terminar? Sou velha já, haverá ainda tempo de viver sem pandemia? (A., 77 anos).
Como sustentar um espaço, atravessado por uma escuta ativa e pela ética do cuidado, que desse conta de criar símbolos para experiências tão dolorosas e traumáticas? Algo inusitado engrossava esse caldo: nós, psicanalistas, também nos encontrávamos vulneráveis pelo contexto ameaçador e caótico do momento. Eu, particularmente, enfrentava o acometimento por doença cardíaca do meu pai, seguido por uma complicação cirúrgica que culminou em um AVC. A partir de alguns sonhos, em um dos eu estava com malas muito pesadas e impossibilitada de carregá-las, e em outro, viajo para um lugar muito frio com roupas de verão, entendo que urge em mim a demanda por iniciar novo processo de análise. Era chegada a hora de dialogar com meus monstros, sob pena de não conseguir intermediar o diálogo dos meus pacientes com seus próprios monstros.
A história de Gael é a história de todos nós em algum momento da existência, quando somos convidados a olhar para os nossos mais arcaicos e profundos temores. Para Gael, o medo de perder os pais se desloca para objetos externos (escuro, avião, cachorro). Freud (1915/1996) em Nossa atitude para com a morte, afirma que, no inconsciente, cada um de nós está convencido de sua própria imortalidade, ou seja, o sujeito se comporta como se fosse imortal, não acreditando na própria morte. É somente como espectadores que podemos imaginar algo em relação ao nosso próprio fim. No inconsciente, onde habita nosso desejo, não há representação simbólica da morte, razão pela qual o sujeito muitas vezes age como se fosse imortal. Entretanto, naquele contexto, a morte nos espreitava no cotidiano nos impossibilitando de negá-la e se transformando no excesso que traumatiza e paralisa.
Em 1920 Freud define trauma como um afluxo excessivo de energia que rompe o escudo protetor, invade o aparelho psíquico e o desorganiza. A psicanálise nos ensina que aquilo que não é elaborado, retorna em forma sintoma. A pandemia se inscreve como um acontecimento trágico na nossa história recente, na medida em que, além de tantos medos; trouxe o isolamento social, a angústia de não poder estar junto daqueles que amamos no período de doença e a impossibilidade da despedida diante da morte. Em maior ou menor nível, ninguém escapou dos seus efeitos. De quais formas temos tentado elaborar esses traumas?
Minerbo (2017) nos conta que o trabalho analítico consiste em oferecer condições para que o paciente possa realizar seu trabalho de simbolização do traumático. É fato que os chamados coachs sumiram durante a pandemia. s Psicanalistas, educadores e filósofos foram os convocados pela sociedade e pela mídia a trazer algum tipo de alento durante aqueles tempos mortíferos. A elaboração de lutos exige tempo, disponibilidade afetiva e muita escuta; virtudes que carecem, em tempos de imediatismo, narcisismo exacerbado e demandas por performance em redes sociais. Gutfreind (2020) nos ensina que não há melhora psíquica que não esteja relacionada ao ato de pensar e sentir.
Passados três anos, ou um pouco mais, seguimos lidando com os efeitos dos traumas, individuais e coletivos que ainda reverberam no nosso psiquismo. O menino que perdeu o avô, depois de inúmeras sessões construindo cemitérios de lego, pôde abrir mão da insônia. Os que não puderam se despedir, conseguiram, cada um ao seu modo, criar outros rituais aos quais conferiram o significado de despedida. Alguns idosos que eu acompanhava no instituto de pesquisa onde atuo, sucumbiram à demência, denunciando a importância do laço social na manutenção da saúde mental e levantando a hipótese do quanto o esquecimento dissociativo/demência pode ser um ‘lugar’ de refúgio e proteção contra a dor do real.
Considerações finais
A escuta psicanalítica, tenho convicção, nos oferece a oportunidade de construir narrativas em tempos difíceis. Seguimos nesta arte da escuta do inconsciente, oferecendo repertório para que os traumas sejam elaborados e novas tramas sejam escritas. No prefácio de Sim, a psicanálise cura, grande livro de Nasio. Gabriel Rolón (2019, p. 7) escreve:
A psicanálise ocupa-se de coisas simples, que também são imensamente complexas. Ocupa-se do amor e do ódio, do desejo e da lei, do sofrimento e do prazer, de nossas palavras, de nossos atos, de nossas fantasias [...] Lendo-o (se referindo a Nasio) compreendi que a psicanálise é uma viagem que tem a angústia como ponto de partida e a descoberta de sua origem como destino final. Um caminho que, sem outra bússola além da palavra, dois aventureiros percorrem juntos, tendo por motores o desejo de saber e a paixão. O viajante recebe o nome de paciente e o companheiro de viagem é seu analista.
Como coloca Freud (1916/1996, p. 319) no texto Sobre a transitoriedade, “reconstruiremos tudo o que a guerra destruiu e talvez em terreno mais firme e de forma mais duradoura do que antes”. O monstro do armário nunca vai embora. Permanece conosco vida afora, mudando suas feições de acordo com nossas experiências e do modo como lidamos com o imponderável da existência. O grande desafio é fazer com que ele seja passível de convivência, como fez Gael ao final da narrativa. Assim como a literatura abre brechas simbólicas no real, acredito que a psicanálise nos devolve a capacidade de criar recursos simbólicos para suportarmos a dureza da existência. Como nos mostra Gutfreind (2020), é narrando que a vida se transmite e permanece, seja nos escritos, seja na construção oral. Não sabemos se a morte é o fim da história, mas a falta de história significa a morte psíquica.
Por fim, ainda no intuito de criar um diálogo entre a escuta psicanalítica e a literatura, me ocorre a ideia de que nosso ofício é muito semelhante ao do personagem de Salinger em O apanhador no campo de centeio (2019, p. 115), no qual ele explica:
Eu fico na beirada de um precipício maluco. Sabe o que eu tenho que fazer? Eu tenho que agarrar todo mundo que vai cair no abismo. Quero dizer: se um deles começar a correr sem saber aonde está indo, eu tenho que aparecer de algum canto e agarrar o garoto. Só isso que eu ia fazer, o dia todo, ia ser só o apanhador no campo de centeio.