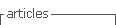Depois de ter proposto o tema “Odisseia”, a revista Ide agora nos desafia com a temática “Guerra e Paz”, que nos remete imediatamente ao clássico de Tolstói. Não me surpreende nem me contraria a ideia de trafegar entre territórios épicos. Já na década de 1990 eu lembrava que, três séculos depois das aventuras marítimas que descortinaram novos mundos para a Europa, surgia a psicanálise, que nos instiga à grande aventura de nos embrenharmos no infinito espaço interior, do mundo das emoções e da construção do pensamento. Eis que diante de nós se oferecia a colossal empreitada de investigar as profundezas do gigantesco continente do espaço inconsciente.
Poetas e psicanalistas acenavam com um mundo novo a quem tivesse a ousadia de encarar as surpresas e os riscos de tal expedição. E tal como Dante recorreu ao pagão Virgílio para acessar as profundidades do inferno, os caminhos da psicanálise vão necessitar de uma companhia igualmente pagã.
E, assim, invoco o conhecido mito de Orfeu, o músico que vai resgatar sua amada Eurídice do Mundo dos Mortos, o reino inferior de Hades. Vale lembrar que Orfeu já participara de outra expedição épica, contemporânea aos feitos da Odisseia: ele integrara a tripulação da nave Argo, ou seja, fora um dos argonautas, os quais, liderados por Jasão, buscavam o Velocino de Ouro. Mas não é essa história que aqui me interessa.
Eurídice e Orfeu viviam uma bela história de amor quando ela, fugindo do assédio de Aristeu, morre no dia do casamento, picada por uma serpente. Os deuses, apiedados do desconsolado viúvo, o autorizam a resgatar a amada, sob a condição de ele não olhar para trás no percurso da volta. Depois de uma jornada repleta de peripécias, Orfeu chega ao reino de Hades; na viagem de retorno ao Mundo dos Vivos, porém, ele se volta para trás, buscando a confirmação de que sua musa o seguia. E paga caro por essa desobediência: Eurídice retorna aos ínferos.
Essa história foi contada inúmeras vezes - Monteverdi e Glück a revisitaram em óperas, nos séculos 16 e 17, respectivamente, e, para não ir muito longe, podemos lembrar da peça Orfeu da Conceição, de Vinicius de Moraes, musicada por Tom Jobim e estreada em 1956, texto que três anos depois foi retomado pelo cineasta Marcel Camus em Orfeu Negro, e, mais recentemente, por Cacá Diegues, num filme de 1999 com música de Caetano Veloso. Os clássicos, quando revisitados, trazem a centelha do momento atual e de sua circunstância.
Mas não posso deixar de me referir a outro exemplo. No poema Orfeu. Eurídice. Hermes, de 1904, Rainer Maria Rilke se debruça sobre a subjetividade do herói e ilumina as razões que o levaram a não cumprir com o estabelecido, voltando os olhos para Eurídice - gesto que a condena a retornar ao território de Hades e que o enche de desespero. O poeta alemão descreve lindamente como Orfeu caminhava tendo atrás de si o espectro da amada conduzida pela mão de Hermes, deus que em geral fazia o percurso inverso, ciceroneando a alma dos mortos até o Hades (e agora cito a bela tradução de Augusto de Campos):
À frente o homem com o manto azul,
esguio, olhar em alvo, mudo, inquieto. [Orfeu vestido de azul, corpóreo,]
cujas mãos pendiam
rígidas, graves, das dobras das vestes, [e cujos]
sentidos estavam em discórdia:
o olhar corria adiante como um cão,
voltava presto, e logo andava longe,
parando, alerta, na primeira curva,
mas o ouvido estacava como um faro.
Orfeu inquieto, os olhos não descansam, os ouvidos estão a mil:
Às vezes parecia-lhe sentir
a lenta caminhada dos dois outros
que o acompanhavam pela mesma senda.
Mas ele não tem certeza, “às vezes” - só às vezes - julga que Eurídice o segue, mas não está convencido de todo. Nesse caminhar, Orfeu tem a materialidade e a corporeidade de um humano, seus passos, sua respiração audíveis como o pulsar de sua existência viva:
Mas só restava o eco dos seus passos
a subir e do vento no seu manto.
A si mesmo dizia que eles vinham.
Gritava, ouvindo a voz esmorecer.
Já Eurídice resta ainda como um espectro cuja presença fantasmática não se fazia sentir, não se ouvia nem mesmo o barulho de seus passos [e não posso me furtar a reproduzir um trecho mais longo]:
Eles vinham, os dois, vinham atrás,
em tardo caminhar.
…
as duas sombras a seguir, silentes:
o deus das longas rotas e mensagens,
o capacete sobre os olhos claros,
o fino caduceu diante do corpo,
um palpitar de asas junto aos pés
e, confiada à mão esquerda: ela. [Ela, a amada,]
que não pensava no homem que ia à frente
nem no caminho que subia aos vivos.
Ia dentro de si, e o dom da morte
dava-lhe plenitude.
[Morta, ensimesmada, sombra alheia às veredas por onde passa.]
Não era mais a jovem resplendente.
A inquietação do herói segue um crescendo e ele, inseguro, ansioso, vira a cabeça sobre os ombros para confirmar a presença da amada (o que o fez fazer o que fez? ele havia sido instruído a não olhar para trás, não se entende essa sua atitude estúpida):
E quando enfim o deus
a deteve e, com voz cheia de dor
disse as palavras: “Ele se voltou.” -
ela não compreendeu …
Nesse momento, como um espectro, sem reação humana, sem decepção, Eurídice simplesmente regressa ao Mundo dos Mortos no mesmo caminhar sem substância, sem se dar conta de nada:
o vulto
que retornava pela mesma via,
o andar tolhido pelas longas vestes,
incerto, tímido, sem pressa.
A subjetividade passa a existir no mito. E assim o desenvolvimento do pensamento no século 20 chega à poesia e à psicanálise. O que era mito pode ser objeto de estudo e reflexão dessa peculiar ciência que é a psicanálise. Mitos convidam a analogias, e penso na imensa transformação e susto que nos legaram os três anos pandêmicos de confinamento. Um período que também nos deixou de herança o hábito das análises que transcorrem sem a materialidade da presença de corpos, possibilitadas pela tecnologia dos aplicativos. Mas não sejamos ingênuos: o conforto que a tecnologia promove no campo psicanalítico não diz respeito à economia de tempo decorrente da ausência de deslocamentos geográficos. O bem-estar advém da inexistência dos conflitos que poderiam decorrer do encontro dos corpos e do convite à manifestação do mundo das pulsões e do território recalcado que habita o inconsciente.
Em sua Poética, Aristóteles diz algo nem sempre suficientemente lembrado, ou seja, que a imitação pode nos trazer alívio. Na representação mimética somos capazes de encarar situações que não seríamos capazes de afrontar no mundo real: as feras da natureza, por exemplo, podem ser confrontadas em sua formulação mimética, e, portanto, se prestam a ser objeto de reflexão. A respeito do romance, hoje é praticamente um axioma dizer que esse gênero traz para a cena a consciência fraturada e o território do inconsciente, possibilitando a reflexão acerca da sociedade. Ao mesmo tempo, quando essa expressão literária se firma, ganha corpo uma expertise que acena com a possibilidade de se conhecer as vastidões do inconsciente: uma nova ciência se alça ao panteão do saber.
Os clássicos permanecem, acredito, mas as traduções caducam e serão sempre convidadas a uma atualização que será inevitavelmente matizada pelas tempestades do presente. Mesmo uma simples releitura não é passível de repetição: não leva a lugar nenhum fixar um mito, um poema, um texto épico ou mesmo um conceito psicanalítico. Manuais e dicionários são tentativas vãs de fixar o humano de nossa disciplina, eles sofrerão o inevitável destino de uma esperança que não se realizará e se perderão na obsolescência. Destino obrigatório para o que não respeita a História.
Datados, os épicos situam-se numa dada sociedade que, por sua vez, é objeto de uma mimese entranhada na construção da obra. Quando retornam, “transcriados”, como diria Haroldo de Campos, estão impregnados do tempo que assiste a essa rememoração. Pois a narrativa épica, ancorada num emaranhado de peripécias atravessadas por um herói, para além de apontar para o destino desse protagonista, de alguma maneira mimetiza ou nos faz pensar determinada sociedade. Assim, na Ilíada, Aquiles é o herói de uma sociedade arcaica e iletrada em que prepondera a individualidade. O Estado é precário, as forças em luta carecem de organização mais complexa. Aquiles quer se eternizar por seus feitos e sobreviver na “boca dos homens”. Em que medida ainda estamos sujeitos a essas fantasias de eternidade? As aventuras de Odisseu não poderiam ter lugar na pólis de Péricles ou no Estado helênico de Alexandre, o Grande, quando os exércitos já adquirem um caráter orgânico, que integra um Estado complexo organizado, mas essa é uma questão que não cabe ser aqui discutida.
Virgílio escreve a Eneida no século 1 a.C., durante o governo de Augusto, primeiro imperador de Roma, naquele momento um Estado relativamente harmonioso depois de séculos de guerra civil. Roma está muito distante da sociedade arcaica que sete séculos antes geraram Homero. Os territórios ocupados não necessitam tanto do exército, pois se alcançara um estilo de dominação baseada na cumplicidade das elites locais, que usufruem parte dos privilégios dos conquistadores - exemplo eloquente é a Judeia da época de Jesus, sendo os sacerdotes do templo cúmplices de Herodes. É um modelo exitoso de construção de um império que talvez perdure até nossos dias.
Tal sociedade produz uma épica diferente: o herói implícito é a própria Roma, e Eneas, príncipe de Troia, é um protagonista muito diferente de Odisseu ou Aquiles, a ponto de T. S. Elliot fazer uma boutade dizendo que ele mais parece um padre devotado à fundação de Roma. Eneas é, de fato, um herói que se sacrifica pelo bem comum, pela criação da cidade, abandonando Cartago e sua rainha Dido, que o ama de paixão. A missão de fundar a cidade, de mirar o bem comum antes de mais nada, se sobrepõe ao destino pessoal do herói. A tragédia de Dido será retomada na ópera Dido e Eneas, de Henry Purcell, no século 17, já no contexto do alvorecer do homem moderno. Será necessariamente uma releitura que entranha as concepções de sua contemporaneidade.
Os heróis épicos sempre ressurgem traduzidos para novas realidades sociais e históricas. Mesmo Virgílio reaparece como guia de Dante no momento da consolidação da língua italiana e do preâmbulo da construção dos Estados europeus. Mais uma vez as epopeias de algum modo mimetizam e dão representatividade ao corpo social do qual emergem, e nelas os povos podem se reconhecer.
Agora retomemos a proposta editorial dessa nova edição da revista. Li Guerra e Paz ao menos duas vezes, confesso: devorei o livro na adolescência e o reli anos depois. Como esquecer os irmãos Natacha e Nikolai Rostóv, o príncipe Andrei Bolkónski e o bastardo Pierre Bezúkhov? Em meio à invasão napoleônica e às vicissitudes dos personagens, a mim me parece que o herói do romance é o povo russo, o humilde homem do campo, projeto de redenção social. O império russo vivia sob intensa e violenta repressão, a servidão feudal ainda persistia, inúmeras correntes revolucionárias deliberavam sobre caminhos utópicos. Tolstói participa desse debate, em busca da compreensão do que é esse “povo”, o novo protagonista épico.
Uma sequência épica pode ser lida na História da Revolução Russa de Tróski, talvez melhor literato do que homem de partido. Me refiro à passagem em que ele descreve o instante em que se dá conta de que o momento é revolucionário. Ao avistar uma manifestação de mulheres proletárias, Trótski vislumbra um cossaco a cavalo que, a despeito de estar ali para reprimir o movimento, surpreendentemente pisca, cúmplice, para uma manifestante. E essa percepção faz Trótski refletir sobre o esgarçamento das relações de classe tradicionais e a proximidade do advento de um novo mundo. É o momento da revolução e Trótski, como sabemos, seria tragicamente tragado pelo vórtice da destruição da utopia. Anos mais tarde será assassinado por um agente stalinista munido de uma arma anacrônica, uma picareta.
Inevitavelmente chegamos ao Ulysses de James Joyce, cuja trama, que percorre o território da subjetividade, se desenvolve num período de 24 horas. Tendo como eixo a consciência fraturada do protagonista, o romance dos novos tempos assiste aos estertores do romance realista. Como não evocar Doutor Fausto, de Thomas Mann, monumental descrição da subjetividade que permeia a ascensão do nazismo?
Me vêm à lembrança Vassili Grossman e seu colossal Vida e destino, concluído em 1962, mas só publicado em 1980… na Suíça! (Saiu na Rússia apenas depois da glasnot, em 1989.) Se em Guerra e Paz Tolstói elabora um épico das guerras napoleônicas, em Vida e destino Grossman revisita a Segunda Guerra Mundial - é memorável a carta que a mãe do protagonista escreve ao filho antes de ir para o campo de extermínio. E essa carta - nesse romance de inspiração francamente tolstoiana (quando esteve no front, Grossman levou um único livro: Guerra e Paz) - talvez constitua um dos mais pungentes e eloquentes relatos literários acerca do Holocausto.
Como num voo de pássaro, dei livre curso às associações para enfim aterrizar em meu argumento. É sabido meu apreço por essa revista, que editei por anos, num momento em que ela, como hoje, também conseguia acompanhar o espírito do tempo, o Zeitgeist. O país vivia o clima da redemocratização e nossa sociedade psicanalítica se abria a reformas. Publicamos pela primeira vez as supervisões de Bion, a tradução de um texto de Alexandre Kojève, entrevistas de analistas conhecidos, dessacralizando autorias etc. Se um livro deve ter o espírito guerreiro de revelar sua época, uma revista precisa ser ainda mais ágil, diria até que ela deveria ter o espírito guerrilheiro. Esse é o desafio de uma editoria: captar as contradições de sua circunstância.
No lançamento desse número dedicado à temática “Guerra e Paz”, falo emocionado, pois acabo de vir de uma cerimônia na antiga sede da Operação Bandeirante, a Oban, centro de tortura da ditadura militar inaugurada em 1969, velho conhecido meu… Comoveram-me as lembranças, mas mais ainda a visão de estudantes universitários de vários estados do país cavando o solo num trabalho arqueológico, de recuperação da memória. Uma juventude inteira foi silenciada, morta, desaparecida em todo o continente. Creio ainda não ter sido escrito o épico daqueles tempos. E reitero, como nossa disciplina vem atestando, que quem não rememora repete.
Pois bem: hoje vivemos um recrudescimento fascista que conta com a complacência, quando não o apoio explícito, e para mim espantoso, de colegas médicos e, mais chocante ainda, de psicanalistas. Nesse retorno, agora com características próprias, surgem novos desafios, destacando-se no proscênio político a obscena desproporção de renda, a impunidade do racismo e do machismo, a celebração de modelos radicais de apropriação de riquezas, a conflagração de guerras por hegemonias imperiais etc. Como essa atualidade adentra nossas teorizações, nossas ideologias, nossa prática?
Não é difícil identificar as mudanças cruciais no nosso fazer cotidiano desde que me iniciei até hoje, passados quarenta anos. O que resulta do enfoque da saúde como um grande território de ativos financeiros? Do individualismo crescente que acompanha sistemas neoliberais? Das mudanças tecnológicas que logo tornaram anacrônicos os faxes que um dia nos maravilharam e que já pertencem à pré-história? Das situações analíticas em que o diálogo se dá sem a presença dos corpos e vence distâncias mesmo continentais? Quais as faces ocultas do progresso, da destruição que acompanha o incremento científico e tecnológico? Quais os desafios e lutas quando a precarização ganha protagonismo? Pode a psicanálise se isolar? A resposta dessa revista sempre foi levantar a bandeira da imbricação entre cultura e psicanálise. Não basta recorrer ao construto teórico de pulsão de vida e de morte, ou outros de origem psicanalítica, se não forem abordados os percursos e as mediações inevitáveis entre o conceito e sua manifestação concreta.
Cabe a nós investigar, na alma, os trajetos dos estímulos que vêm do corpo e do mundo. Dispomos de um amplo campo conceitual que, com sua especificidade psicanalítica, nos orienta. Desde “O ego e o id”, de 1923, sabemos que nossa ecologia interior contempla um inconsciente construído e recalcado, bem como um inconsciente marcado por rasuras traumáticas que não cessam de se apresentar e se renovar no cotidiano e que, em temporalidades anacrônicas e sincrônicas, se misturam aos meandros da memória e dos sonhos. Temos dentro de nós todas as épicas, que se manifestam em diferentes momentos da vida. Na Ilíada, agora me ocorre, por ocasião das exéquias de Pátroclo, os guerreiros participavam de uma solenidade em honra ao herói morto competindo nos primeiros jogos olímpicos da história - e nesse momento recebiam em si a presença dos deuses. Com essa passagem busco uma analogia com o périplo de narrativas que percorremos individualmente em nossa história pessoal. Nós mesmos já não vivemos um momento em que, na infância, recebemos a presença do Super-Homem? Inclusive o mimetizamos, vestindo sua roupa. Poderíamos dizer que nossa tarefa como psicanalistas é atualizar as obscuridades que se perderam na memória e dar forma ao que, embora não esquecido, sobreviveu apenas enquanto marca cicatricial, um esgarçamento ao qual chamamos traumático. Como as epopeias, nossas memórias perdidas vão reaparecer marcadas pelo relampejar de um perigo atual.
Não basta estudar a dupla continente/ contido, pois é incontornável a questão de quem é o continente do continente. Esse é o desafio das novas gerações psicanalíticas: recuperar os clássicos iluminados pelo relampejar do momento atual. Esse é o campo da revista Ide e esse é o modelo, creio, entranhado no retorno aos clássicos épicos. Agradeço a oportunidade de manifestação e cumprimento vivamente o expediente da revista na pessoa de sua editora Anne Lise Scappaticci. Sou grato também a Ana Maria Vannucchi e a Marcus Vinicius Mazzari, com quem tiver o prazer de comemorar o lançamento de mais essa edição.