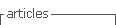Introdução
Este artigo originou-se de uma pesquisa, realizada no âmbito do curso de mestrado, que teve como objetivo refletir sobre a relação entre o brincar e o conhecer na infância. Buscou-se compreender as implicações do brincar para o desenvolvimento da criança, desde a constituição psíquica até o processo de construção do conhecimento. Baseia-se em pressupostos teóricos da psicanálise e da Psicopedagogia, para os quais há sempre um sujeito no processo de construção do conhecimento, com sua história, seu desejo de saber e sua singularidade.
Aos seis anos de idade as crianças ingressam no 1º ano do Ensino Fundamental e sua relação com o conhecimento de coisas novas se intensifica. A organização pedagógica dos seus anos na Educação Infantil fica para trás e se inicia uma nova etapa em sua escolarização. Nessa passagem boa parte do espaço/tempo para as atividades lúdicas, para o brincar, desaparece. As crianças são apresentadas a uma outra forma de organização pedagógica e um outro ritmo se instaura. Entretanto, o desenvolvimento das crianças não se dá de forma tão linear e para algumas fazer essa passagem torna-se um desafio por vezes difícil ou penoso.
Tem-se observado na clínica psicopedagógica que crianças são encaminhadas pelas escolas para avaliação já no 1º ano do Ensino Fundamental ou até mesmo nos anos finais da Educação Infantil. Poder-se-ia estranhar ou questionar o encaminhamento de crianças que mal começaram sua escolarização. O fato de a Educação Infantil vir assumindo práticas de escolarização anteriormente iniciadas apenas no 1º ano do Ensino Fundamental, como a alfabetização, pode estar contribuindo para uma maior exigência de rendimento do aluno no 1º ano. Entretanto, observa-se que essas crianças precisam da atividade simbólica vivenciada no brincar para alimentarem seu processo de desenvolvimento e aprendizagem.
Nesse contexto de transição entre as duas etapas da educação básica, em que está prevalecendo a antecipação de conteúdos e as atividades mecânicas de treinamento, o espaço do brincar está sendo suprimido. Os avanços teóricos e legais alcançados na Educação Infantil não correspondem às práticas vigentes na atualidade em nosso país (Kramer et al., 2011).
Acreditamos que as crianças que apresentam dificuldades de aprendizagem nos anos iniciais do Ensino Fundamental estejam sendo submetidas a práticas que não respeitem ou atendam suas necessidades, sejam elas de ordem racional, emocional ou relacional (Almeida & Silva, 2010). O que está em jogo é a concepção de criança que a sociedade está assumindo, que por sua vez gera uma concepção de educação e uma prática pedagógica. Diferentes olhares sobre a criança levam a diferentes visões de educação.
Nesse sentido, pode-se pensar em que medida a falta ou a presença do espaço do brincar, entendido como espaço para o desenvolvimento da capacidade simbólica, pode interferir na relação do sujeito-criança com o conhecer. Portanto, os objetivos específicos da pesquisa foram refletir sobre o papel do brincar no processo de constituição do sujeito e sobre o papel do brincar na relação do sujeito com o conhecer.
A metodologia utilizada na pesquisa baseia-se no meu trabalho clínico e nos princípios teórico-clínicos da Psicopedagogia e da psicanálise. O trabalho de campo foi desenvolvido nos atendimentos realizados na clínica social do Instituto Pró-Saber, no Rio de Janeiro. Buscamos uma aproximação com a pesquisa-intervenção, na medida em que a minha participação como psicopedagoga-pesquisadora interferia no campo pesquisado. Nesta metodologia o objeto a ser pesquisado não está dado a priori, pois ele também é construído no processo da pesquisa com a participação do pesquisador. Essa metodologia esteve associada ao método clínico que embasa os princípios da pesquisa pela psicanálise (Elia, 2000), uma vez que nosso campo se situava na própria clínica. Desse modo, nossa metodologia se construiu na clínica e foi constantemente realimentada por novas questões que dela emergiram no encontro da pesquisadora com as crianças.
De acordo com Castro (2008), a pesquisa com crianças e jovens tem algumas especificidades e será determinada pela concepção que adotamos desses sujeitos. É partindo de uma concepção sobre a criança que o pesquisador poderá decidir como pesquisá-la.
Em nossa concepção vemos a criança em suas potencialidades e não apenas em suas dificuldades. Deixamos a criança surgir como sujeito desejante, deixamos que ela manifeste suas demandas, ao invés de oferecer a ela a minha própria concepção de infância. Não assumimos um lugar de saber a priori sobre a criança, nos abrimos ao que ela pode trazer de novo. Em nossa atuação clínica procuramos mobilizar nossa sensibilidade para perceber a criança, para escutá-la. Não só através da sua fala, mas através de toda sua expressão (corporal, gestos, emocional) e dos produtos que realiza nas sessões. Dizemos para a criança desde a entrevista inicial que ela é a pessoa mais importante ali. Também damos conta do meio em que ela vive e para isso ouvimos sua família, sua escola e, quando for o caso, algum especialista. O importante é que consigamos analisar esses discursos de modo que a criança realmente se mantenha como a nossa protagonista, se mantenha como sujeito e possa falar sobre sua experiência.
Participaram da pesquisa três crianças (dois meninos e uma menina, com 8 anos de idade, que cursavam o 3º ano do Ensino Fundamental). Inicialmente, foi realizada uma avaliação diagnóstica individual em sete sessões. As queixas iniciais se referiam à agitação, falta de concentração, indisciplina e atraso na alfabetização. A intervenção psicopedagógica, com atendimentos uma vez por semana, foi conduzida de acordo com os resultados obtidos nas avaliações e os pressupostos teóricos que nortearam a pesquisa. Os pais também foram acompanhados durante o processo. As principais estratégias utilizadas na pesquisa foram a observação direta das sessões de atendimento psicopedagógico, os registros reflexivos das sessões, entrevistas e acompanhamento dos pais, entrevistas com educadores na escola. O trabalho contou ainda com reuniões de supervisão clínica individuais (bimestrais) e reuniões da equipe clínica (quinzenais).
Um dos princípios norteadores de nossa intervenção foi a liberdade para as crianças escolherem os objetos (jogos, brinquedos, materiais) que desejassem usar nas sessões. Dessa forma, eu poderia observar a relação que estabeleceriam com o brincar nas sessões comigo. Analisei os movimentos na escolha dos brinquedos ao longo das sessões e fiz um recorte dos pontos que se destacaram buscando compreender a presença do brincar no processo de constituição do sujeito e em sua relação com o conhecer.
Foi fundamental no processo da pesquisa e da intervenção psicopedagógica estar em um estado de brincar com as crianças, um estado brincante, como estou chamando. Pude observar que estar disponível para brincar e jogar com eles é necessário para que esse espaço de brincar flua e se amplie. Segundo Winnicott (1975, p. 74), “nessa área de superposição entre o brincar da criança e o brincar da outra pessoa, há possibilidade de introduzir enriquecimentos”.
O brincar na constituição do sujeito
A seguir apresentaremos uma revisão bibliográfica dos principais autores do campo da Psicanálise sobre o tema do brincar buscando aprofundar a compreensão da importância do brincar para o desenvolvimento das crianças.
A obra de Freud é considerada o marco inicial da teorização sobre o brincar na infância. Em “Além do princípio do prazer”, publicado originalmente em 1920, Freud (1996) se debruça sobre o princípio de repetição presente nas neuroses. Supondo que as atividades lúdicas sejam submetidas ao mesmo princípio, propõe-se a examinar o método de funcionamento mental presente na brincadeira das crianças, introduzindo um elemento novo em relação ao trabalho de Pfeifer que estudara anteriormente as teorias sobre a brincadeira infantil do ponto de vista psicanalítico. Ao trazer para o primeiro plano o motivo econômico que leva a criança a brincar, Freud pretende levar em conta a questão pulsional envolvida nessa atividade, que pode proporcionar o escoamento de uma quantidade de excitação presente no aparelho psíquico. Isso traz consequências inclusive para se pensar a constituição do sujeito psíquico.
Freud descreve, então, uma brincadeira inventada por seu neto de um ano e meio com o qual conviveu proximamente por algumas semanas e pôde observar. Era considerado um bom menino, “obedecia conscientemente às ordens de não tocar em certas coisas, ou de não entrar em determinados cômodos e nunca chorava quando sua mãe o deixava por algumas horas” (Freud, 1996, p. 25). Entretanto, esse bom menininho repetia constantemente uma atividade: apanhava quaisquer objetos e os atirava longe, de modo que era difícil encontrá-los depois. Esse movimento era acompanhado por um som de o-o-o-ó e por uma expressão de interesse e satisfação. Freud e a mãe do menino perceberam que não se tratava apenas de um som, mas que representava a palavra alemã fort, que significa ir embora. Era um jogo, no qual o menino usava seus brinquedos para brincar de ir embora com eles.
A observação de outra brincadeira permitiu que Freud confirmasse sua interpretação.
O menino tinha um carretel de madeira com um pedaço de cordão amarrado em volta dele. O que ele fazia era segurar o carretel pelo cordão e com muita perícia arremessá-lo por sobre a borda de sua caminha encortinada, de maneira que aquele desaparecia entre as cortinas, ao mesmo tempo em que o menino proferia seu expressivo o-o-o-ó. Puxava então o carretel para fora da cama novamente, por meio do cordão, e saudava o seu reaparecimento com um alegre ‘da’ (‘ali’). (Freud, 1996, p. 26)
A interpretação do jogo proposta por Freud relacionava-se à renúncia à satisfação instintual que o menino realizara ao permitir que sua mãe fosse embora sem protestar (ele nunca chorava quando ela saía). Através da encenação do desaparecimento e retorno dos objetos que podia alcançar, o menino elaborava as partidas e retornos de sua mãe. O sentido do jogo poderia ser explicado pela obtenção de prazer vivenciada no momento do retorno do brinquedo. Contudo, o menino repetia com maior frequência apenas a primeira parte do jogo, a partida, uma experiência desagradável e aflitiva. Segundo Mannoni (1999, pp. 20-21), “a criança procuraria, assim, controlar pelo jogo experiências desagradáveis, ou seja, reproduzir uma situação que foi originalmente penosa”. Com o Fort-da, Freud descobre “o papel exercido pelo princípio de repetição como função de domínio de situações desagradáveis”.
O que aparece no jogo do ‘fort-da’ é o surgimento da dimensão simbólica na relação mãe-filho. A criança pontua com uma palavra o que poderia ser interpretado como rejeição e retorno da mãe. São estas palavras fort, da, que introduzem uma dimensão terceira: para além da ausência da mãe real, a criança encontra, através de um vocábulo, a mãe simbólica. (Mannoni, 1999, pp. 21-23)
Com a repetição da experiência, mesmo que desagradável, a criança saiu de uma situação de passividade em que era dominada pela experiência, para com seu jogo assumir um papel ativo que lhe permitiu elaborar, simbolizar essa experiência. As experiências desagradáveis, como uma consulta médica, por exemplo, também podem ser material para as brincadeiras. “Quando a criança passa da passividade da experiência para a atividade do jogo, transfere a experiência desagradável para um de seus companheiros de brincadeira e, dessa maneira, vinga-se num substituto” (Freud, 1996, p. 28).
Bittencourt e Ornellas (2009) destacam a relação estabelecida por Freud entre o jogo de desaparecimento e retorno dos objetos e as cenas vividas cotidianamente pelas crianças: as saídas e retornos da figura materna quando sai para trabalhar e depois retorna, ou quando deixa a criança na escola e depois retorna para buscá-la.
Em ambas situações, a mãe deixa a criança aos cuidados de um outro. Uma mescla de angústia e dor, por um lado, em decorrência da perda, e de prazer e satisfação, por outro, em virtude da (re)apropriação, pela criança, do objeto perdido temporariamente. (Bittencourt & Ornellas, 2009)
Com sua brincadeira, o menino criou uma forma de reconstruir a situação vivida com sua mãe na realidade, em um espaço de simbolização, de representação. A pulsão é uma força que se move, uma quantidade de afeto que precisa se vincular a uma ideia, para assim ser simbolizada. Através dessas simbolizações o processo de subjetivação avança à medida que torna possível a consolidação de uma experiência de separação em relação ao objeto de investimento pulsional. Com isso, Freud mostra que o brincar está ligado ao desenvolvimento das experiências afetivas da criança, demarcando a contribuição singular da psicanálise para a compreensão da importância do brincar na infância.
Passa-se agora a um autor para o qual a função do brincar ocupa lugar central em sua teoria sobre a constituição do psiquismo. Winnicott (1975) com sua experiência clínica como pediatra, psiquiatra e psicanalista, e sua sensibilidade para observar as crianças conforme mostram seus relatos sobre os casos, trouxe uma contribuição fundamental para a teoria do brincar. Sua hipótese sobre os objetos transicionais e os fenômenos transicionais, apresentada originalmente em 1951, mostra que o brincar na infância surge como consequência desses fenômenos transicionais presentes no início da vida psíquica. Ou seja, o brincar não é uma condição inata ou natural. É uma capacidade que surge no indivíduo “como recompensa por uma combinação satisfatória de influências ambientais com os processos hereditários de maturação” que acabam por firmar uma área intermediária muito importante para a vida do indivíduo (Winnicott, 1975, p. 49).
Winnicott (1975) sugere que o padrão dos fenômenos transicionais começa a surgir nos bebês entre os quatro e seis meses, e os oito e doze meses. Esses intervalos estendidos mostram intencionalmente que pode haver amplas variações nesse processo. Os objetos transicionais representam uma zona de trânsito do bebê de um estado em que está fundido com a mãe para um estado em que se relaciona com ela como um objeto externo e separado. De acordo com Winnicott (1975, p. 18), o objeto transicional é uma “possessão original ‘não-eu’”, desde o punho na boca do recém-nascido, passando pelo polegar, pela ponta de um cobertor, um travesseiro, até a ligação com um ursinho, uma boneca ou outro brinquedo macio, que se tornam objetos inseparáveis. Os fenômenos transicionais envolvem o uso de “objetos que não fazem parte do corpo do bebê, embora ainda não sejam plenamente reconhecidos como pertencentes à realidade externa” (Winnicott, 1975, p. 14).
O brinquedo inventado pelo menino descrito por Freud no Fort-da pode ser um exemplo de fenômeno transicional, pois Winnicott (1975) considera que o balbucio de um bebê também pode incidir sobre essa área.
À medida que o bebê começa a usar sons organizados (‘num’, ‘ta’, ‘da’), pode surgir uma ‘palavra’ para designar o objeto transicional. O nome dado pelo bebê a esses primeiros objetos é frequentemente significativo e em geral apresenta uma palavra empregada pelos adultos, parcialmente incorporada a ele (Winnicott, 1975, p. 18).
No caso dos objetos que o menino lançava, o fenômeno em si era o gesto e o som a eles associados. Não havia o apego a um objeto específico. A ação de jogá-los combinada ao som, cumpria a função de defendê-lo da ansiedade de se separar da mãe. Depois com o carretel preso ao berço, pôde experimentar a ida e a volta do brinquedo que estava amarrado por um cordão e acrescentou um som para o movimento de volta.
No início da vida psíquica o bebê vive a ilusão de que os objetos externos, como o seio materno, são uma criação sua. A maternagem suficientemente boa sustenta essa ilusão primária, ilusão de que o real pode ser controlado por ele. Nessa fase prevalece o narcisismo infantil e a onipotência do pensamento mágico, tal como trabalhou Freud (1914/1989). Essa experiência de ilusão será gradativamente substituída pelas experiências de desilusão, na medida em que o bebê puder lidar com o fracasso da mãe, aceitando a falta que esse reposicionamento materno acarreta. Os fenômenos transicionais contribuem para o processo de substituição da ilusão onipotente por outra forma de relação com os objetos: os objetos se tornam reais, ou seja, amados ou odiados.
Segundo Maia (2014), a área transicional é aquela em que ocorre a primeira possibilidade de um símbolo (o objeto transicional) entrar em jogo.
O paradoxo da transicionalidade aponta para um lugar onde o que impera é a ruptura, a descontinuidade, a lacuna e a diferenciação. É um lugar onde pode a significação do mundo aparecer para o bebê em forma de símbolo, já que a transicionalidade é o espaço da invenção. (Maia, 2014, pp. 26, 34)
Os fenômenos transicionais evoluem para o brincar, que depois evolui para o brincar compartilhado. As brincadeiras das crianças muitas vezes expressam seu trabalho psíquico em torno da experiência de onipotência, de ilusão, que na compreensão de Winnicott (1975), é tão necessária quanto a desilusão, o que está na base da construção da transicionalidade. O espaço do brincar, como fenômeno transicional, permite à criança construir alguma coisa a partir da sua onipotência no encontro com a realidade do objeto.
Essa área da brincadeira se encontra na tênue linha teórica entre o subjetivo, o mundo interno, e o objetivamente percebido, a realidade compartilhada. É uma área de fronteira. “A importância do brincar é sempre a precariedade do interjogo entre a realidade psíquica pessoal e a experiência de controle de objetos reais” (Winnicott, 1975, p. 71). A criança traz para dentro da área do brincar fragmentos da realidade externa que são usados a “serviço de alguma amostra derivada da realidade interna ou pessoal” (Winnicott, 1975, p. 76). Através desses fragmentos seu potencial onírico pode se manifestar. É um processo de criação: a partir de um material da realidade externa a criança vai criar algo colorido pelo seu mundo interno.
A atividade do brincar infantil é entendida pelo autor como uma experiência criativa. É no brincar que o indivíduo (criança ou adulto) tem oportunidade e espaço para ser criativo, para vivenciar sua criatividade e, assim, descobrir o eu. Contudo, o sentimento do eu não será encontrado em produtos de experiências criativas ou artísticas. Há aqui uma dimensão ética na concepção de Winnicott que merece ser ressaltada: trata-se de uma forma de viver criativamente. Nessa concepção de vida, a criatividade é entendida “como um colorido de toda a atitude com relação à realidade externa” (Winnicott, 1975, p. 95). Viver criativamente é um estado saudável, que traz a valorização da vida. Em oposição, há uma forma submissa de relação com a realidade externa, que leva estritamente à adaptação, à adequação ao que o mundo exige e se associa à ideia de que a vida não vale a pena.
É a brincadeira que é universal e que é própria da saúde: o brincar facilita o crescimento e, portanto, a saúde; o brincar conduz aos relacionamentos grupais; o brincar pode ser uma forma de comunicação na psicoterapia; finalmente, a psicanálise foi desenvolvida como forma altamente especializada do brincar, a serviço da comunicação consigo mesmo e com os outros. (Winnicott, 1975, p. 63)
As atividades lúdicas da infância podem evoluir para uma vida cultural rica na fase adulta. A arte está entre as manifestações culturais que se inserem no espaço transicional que permanece na vida adulta.
Freud, em 1908, já havia pensado na relação entre a atividade criativa do adulto, no caso de sua análise, do escritor, e o brincar infantil. A criança em sua brincadeira, que é sua “ocupação mais querida e mais intensa”, comporta-se como um criador literário, na medida em que constrói para si um mundo próprio usando os elementos da realidade em que vive. A brincadeira é vivida com seriedade pela criança que emprega nessa criação grande quantidade de afeto. Ela é capaz de distinguir perfeitamente seu mundo de brincadeira da realidade, baseando “nas coisas palpáveis e visíveis do mundo real os objetos e situações que imagina” (Freud, 1908/2015, p. 327). Segundo Freud, as brincadeiras infantis são guiadas pelo desejo específico de ser grande e adulto.
Com o crescimento, o indivíduo para de brincar e o ganho de prazer que tinha com a brincadeira é substituído pelo ato de fantasiar, que, então, não estará mais apoiado em objetos reais. O fantasiar é uma internalização do ato de brincar na vida adulta. Freud (2015, p. 328) enfatiza que não se trata de uma renúncia ao prazer experimentado, mas de uma formação substitutiva porque “quem conhece a vida psíquica do ser humano sabe que nada é tão difícil para ele quanto renunciar a um prazer que já experimentou”.
A relação entre o brincar e o conhecer
Devido à complexidade do seu objeto de estudo, a Psicopedagogia é um campo formado pela confluência de conhecimentos específicos de diversas teorias, com o objetivo de compreender os problemas da aprendizagem humana. Sendo assim, os profissionais da Psicopedagogia fazem diferentes escolhas teóricas para sustentar sua prática, gerando diferentes possibilidades de enquadre e abordagem (Bossa, 2011). A psicanálise é uma das teorias que embasam a perspectiva psicopedagógica que adotamos.
A fundamentação teórica psicopedagógica adotada na pesquisa baseou-se na concepção de Almeida e Silva (2010) na qual o sujeito ocupa um lugar central. Sua concepção teórica coloca como objeto da Psicopedagogia o ser em processo de construção do conhecimento, o ser cognoscente, e baseia-se nas contribuições da psicanálise, do construtivismo de Piaget e da psicologia social de Pichon Rivière, sem buscar eliminar suas diferenças. O ser humano é considerado “como uma unidade de complexidades, um ser pluridimensional com uma dimensão racional, uma dimensão afetiva e uma dimensão relacional”, que também pode ser definido como um ser “pensante, apaixonado, de relação e contextualizado” (Almeida e Silva, 2010, pp. 22, 32). As dimensões do ser cognoscente são constituintes no processo de construção do conhecimento. A relação entre sujeito e objeto é vista a partir do princípio da interação, na qual um atua sobre o outro. O sujeito é sempre ativo, pois introduz conteúdos seus no ato de conhecer um objeto. A articulação das dimensões do ser cognoscente é regida pelo princípio do prazer e pelo princípio da realidade, na dialética da autonomia e da heteronomia. Essa articulação se dá num processo conflitivo e complementar, em que “as dimensões, por terem especificidades próprias, não se fundem ou se excluem, mas se completam no confronto e no conflito” (Almeida e Silva, 2010, p. 44). O eu cognoscente é o núcleo organizador que possibilita a complementaridade advinda desse confronto, atuando como intermediário entre o desejo e a razão. A noção do eu cognoscente permite que se veja o singular de cada sujeito dentro da universalidade do ser cognoscente (Almeida & Silva, 2007).
A seguir busca-se refletir sobre as relações entre o brincar e o conhecer, visando compreender como esse sujeito cognoscente conhece o ambiente ao seu redor através do brincar e como, num segundo momento, esse conhecer chegará à educação formal na escola.
O ato de conhecer se inicia com o ato de brincar. Ou seja, é brincando que a criança começa a conhecer o mundo. É através do brincar que a criança, desde o princípio de sua vida, realiza a exploração do ambiente a sua volta, de seu próprio corpo e dos objetos que tem ao seu alcance. Com sua atividade lúdica, a criança vai construindo seus primeiros conhecimentos. Segundo Fernández (2001a, p. 127), o brincar é a primeira experiência de autoria, “algo que se faz sem a demanda do outro e sem a exigência da necessidade”. As primeiras experiências de autoria do bebê, como o uso da sua voz para fazer um balbucio ou o movimento dos seus pés sobre o colchão, inauguram o pensamento.
Além de permitir a emergência do sujeito desejante, o brincar também permite a emergência do sujeito pensante, uma vez que a inteligência se constrói a partir do brincar. O brincar assume importância para a Psicopedagogia, pois é o terreno libertador da inteligência. Segundo Fernández (2001a, p. 42), a inteligência não está ancorada em um bom funcionamento neurológico. “Ela se constrói em um espaço relacional”, a partir dos vínculos que o sujeito estabelece com os outros. A noção de que há interferência da afetividade na aprendizagem já é aceita entre educadores, psicopedagogos e psicólogos. Alicia Fernández afirma que é comum encontrar nas crianças atendidas com problemas de aprendizagem a privação do brincar em suas histórias.
O brincar configura-se como um espaço de liberdade no qual a criança pode se reinventar, tornar-se capaz de transformar a realidade e não sucumbir a ela, estática e passivamente. Dessa forma, a criança assume uma postura ativa em relação à realidade exterior, entrando em contato com a realidade do objeto para transformá-la. A autora considera que
o aporte winnicottiano de espaço transicional permitiu redimensionar o brincar: já não se olha o seu caráter utilitário ou apenas a sua função de elaboração da angústia (Freud) ou, ainda, como instrumento terapêutico na análise de crianças (Melanie Klein). O jogar tem, principalmente, uma função subjetivante. (Fernández, 2001a, p. 130)
Nas brincadeiras de faz de conta as crianças inventam as cenas, inventam as personagens, inventam uma narrativa. Por outro lado, quando utilizam um jogo eletrônico toda a narração já está determinada e a criança que joga apenas inclui a velocidade. Atualmente, as crianças têm grande oferta desse tipo de jogo. Logo, faz-se ainda mais necessário abrir espaço para a escuta e a palavra. O brincar pode possibilitar-lhes “relatar(se) e inventar(se) história e personagens, pois quando uma criança brinca, realiza a tarefa de construção e reconstrução permanente” (Fernández, 2001a, p. 130).
Para Fernández (2010, p. 69), assim como o brincar, o aprender se situa no espaço transicional conceitualizado por Winnicott, o qual ela entende como um espaço ‘entre’: “entre a ciência e a poesia, entre o conhecimento e o saber, entre a subjetividade e a objetividade”. Mas na escola em que o ensino é dicotômico, brincar e aprender são separados. Para brincar, existe um espaço-tempo separado das aulas: o recreio.
Embora ocupem o mesmo espaço, brincar e aprender processam-se de forma diferente. Brincar é descobrir a riqueza da linguagem; “aprender é apropriar-se da linguagem”. Brincar é inventar novas histórias; “aprender é historiar-se, recordar o passado para despertar-se ao futuro. Aprender é reconhecer-se, admitir-se. Arriscar-se a fazer dos sonhos textos visíveis e possíveis” (Fernández, 2001a, p. 36). Enquanto no brincar (ou jogar) as regras são válidas apenas para os que participam do jogo dentro do espaço de jogo, sem nenhuma necessidade de validação externa, não há limites e tudo é possível, o aprender implica uma certa concretização de um desejo, em que esse desejo tem que combinar com uma possibilidade de realização. “Para aprender é necessário dar-se conta de uma certa legalidade da qual o jogar não precisa” (Fernández, 2010, p. 101). Nessa distinção entre brincar e aprender é possível reconhecer a dimensão relacional do ato de aprender. Aprender é situar-se no mundo, é colocar a realidade interna em relação com a realidade externa. “O sujeito aprendente-pensante advém em um espaço relacional” (Fernández, 2010, p. 23).
Por outro lado, Fernández (2001a) mostra que ensinar e aprender não podem ser pensados separadamente, pois estão imbricados. Ao mesmo tempo em que a criança precisa que alguém lhe ensine, que alguém deseje que ela aprenda, que alguém creia que ela é capaz de aprender, ela aprende sozinha. Esse aparente paradoxo se explica pelo fato de que aprender é um ato autoral movido por uma energia desejante, no qual “o ensinante entrega algo, mas para poder apropriar-se daquilo o aprendente necessita inventá-lo de novo” (Fernández, 2001a, p. 29). Por isso, os processos de aprendizagem são construtores de autoria, nos quais se constrói o próprio sujeito. A pessoa ensinante tem importância fundamental, pois o molde relacional que se estabelece entre ela e o aprendente vai se inscrevendo na subjetividade do aprendente. Por isso, os ensinantes são agentes subjetivantes.
Para Fernández (2001a), o espaço adequado para a construção do conhecimento é o espaço lúdico. A escola, através dos professores, pode possibilitar a potência criativa do brincar e do aprender da criança. A força criadora e subjetivante do brincar, do jogar, funciona como base para o aprender; um espaço se transforma no outro. O educador mexicano Heli Morales Ascencio, citado por Fernández, refere-se à escola como um exílio, “exílio doce, exílio que não se esquece, mas que potencializa a força criadora e subjetivante de jogar, ampliando-a ao aprender. Exilar-se ao terreno da aprendizagem com as mochilas carregadas de jogares” (Ascencio apud Fernández, 2001a, p. 43).
O prazer do aprender, profundo e subjetivante, abre possibilidades para o aprendente. Mas poderá a criança levar seu potencial criador, seu desejo de conhecer, vivenciados nos primeiros anos de vida através do brincar na fase que corresponde aos primeiros anos de escolarização, na creche e na Educação Infantil, para a aprendizagem formal dos primeiros anos do Ensino Fundamental? Poderá levar sua bagagem com os conhecimentos que construiu através de seus jogos?
O caso Lúcio
A seguir apresentaremos o estudo de caso desenvolvido com uma das três crianças atendidas, a mais frequente nos atendimentos que se desenvolveram ao longo do ano de 2018.
Lúcio, 8 anos, foi encaminhado para a clínica psicopedagógica do Instituto Pró-Saber pela escola. Estava no 2º ano do Ensino Fundamental e era seu primeiro ano naquela escola. A queixa foi assim apresentada pela mãe na entrevista inicial: “Lúcio é agitado na sala de aula; não se concentra, se distrai com os colegas, circula pela sala. Todos os professores se queixam; já teve várias anotações”. O pai me conta que Lúcio não é agressivo; é educado e não tem problemas de socialização. Entretanto, na convivência com muitos perde a concentração. Observa que quando Lúcio está com ele em sua casa faz os deveres sem dificuldade alguma. A mãe acrescenta que na escola em que estudava no ano anterior Lúcio fazia as provas na sala da direção e, assim, isolado, se saía bem.
Lúcio é filho único. Seus pais são separados e têm uma relação que se mostrará bastante conflituosa ao longo da avaliação. Mora com a mãe e a avó materna. Seu contato com o pai se dá uma vez por semana quando dorme na casa dele e em alguns finais de semana.
A avaliação diagnóstica foi realizada em oito sessões. Nas sessões de avaliação Lúcio aceita bem as propostas e colabora na realização das atividades. Mostra-se curioso e tem iniciativa. Na primeira sessão (EOCA) chega dizendo que é bom em tudo. Observei que Lúcio, quando se depara com uma dificuldade com um jogo, logo desiste de jogar. Não tolera a frustração e, assim, não abre possibilidades para si, pois acaba se fechando e evitando aquela situação. Fica muito atraído pelos materiais da sala e tem dificuldade em se deter nos objetos selecionados que estão sobre a mesa, demonstrando falta da noção de limite.
Durante a realização das provas operatórias piagetianas, Lúcio tem dificuldade em se concentrar no que está sendo pedido e quer fazer outras coisas. Propõe um jogo simbólico para o final da sessão em que ele é um professor de matemática severo e eu sou sua aluna, mas o jogo vai acontecendo durante a sessão, entre as provas. Constatei que a construção do seu raciocínio lógico-matemático está no nível pré-operatório, chegando ao início do nível operatório em algumas operações. Ainda não tem a estrutura de conservação.
Nos testes projetivos com desenhos Lúcio não se detém muito. Diz que não gosta de desenhar. Seus desenhos são simplificados. O desenho da família é o mais elaborado, revelando que é um vínculo importante para ele. Seu desenho do par educativo (alguém que ensina e alguém que aprende) mostra que o vínculo com a aprendizagem não é significativo. A partir de certo ponto da sessão foi necessário oferecer a dramatização com dedoches como alternativa ao desenho. Para dramatizar um dos quatro momentos do seu dia, a escola, Lúcio faz uma cena em que um aluno bate no professor e é expulso. Um a um, todos os alunos são expulsos da sala.
Lúcio tem ótima expressão oral. Sua fala é bem articulada e organizada. Entretanto, tem dificuldade em levar as ideias que desenvolve oralmente para o papel. Sua escrita é alfabética, período em que as regras ortográficas da língua ainda estão se firmando. Reconhece os elementos textuais e interpreta o texto e as imagens.
Lúcio demonstra onipotência em relação ao conhecimento, tendendo a considerar as propostas fáceis. Não insiste nas atividades que faz; perde o interesse e quer passar para outra atividade. Lúcio gosta de brincar e jogar. Preocupa-se em vencer no jogo; não gosta de perder. Fica aflito quando erra; não lida bem com o que não sabe. Seu principal interesse é o futebol.
As sessões de anamnese foram realizadas separadamente. Na primeira sessão de anamnese, a mãe de Lúcio expressa desgaste e esgotamento com o processo de escolarização do filho iniciado na creche com 1 ano e 3 meses, quando já surgiram as primeiras queixas de agitação. As dificuldades de aprendizagem de Lúcio são vistas pela mãe com muita angústia e preocupação. Lúcio tem uma relação bastante conflituosa com a mãe, não respeitando sua autoridade. A mãe, por sua vez, revela falta de confiança no filho. Na segunda sessão de anamnese, o pai nos revela um outro comportamento de Lúcio: ele é obediente quando está aos seus cuidados. Considera o filho muito curioso e observador. Tanto a mãe quanto o pai se mostram exigentes com o filho. Entretanto, o pai parece ter uma abertura maior para reconhecer e aceitar o filho em suas singularidades, enquanto a mãe tem maior dificuldade em aceitar o que não se encaixa no seu ideal de filho.
Na visita à escola, em conversa com a orientadora educacional e com a professora de Lúcio, fico sabendo que quando chegou à escola já se apresentava como aluno indisciplinado, terrível. A queixa de agitação e desconcentração é confirmada. Contudo, quando está interessado, Lúcio consegue se concentrar. Não respeita a autoridade dos educadores; não atende às regras, mesmo tendo conhecimento delas; falta-lhe a noção de limite. Em relação ao trabalho pedagógico, Lúcio não tem boa produção escrita, mas tem bom desempenho em atividades orais. Tem muitas ideias, mas não finaliza as tarefas.
Terminada a avaliação diagnóstica, fizemos a devolução para os pais e para Lúcio. Em seguida, iniciamos a intervenção buscando: acolher a agitação de Lúcio, deixar seu pensamento aparecer e fazer com que se movimentasse da posição de onipotência à posição de potência frente ao conhecimento.
Destacaremos a seguir dois eixos de análise desenvolvidos na pesquisa a partir do material registrado nas sessões.
A travessia da onipotência
Como dito anteriormente, Lúcio considera as tarefas e os jogos fáceis. O xadrez, por exemplo, ele considera fácil, mas quando joga usa suas próprias regras. É competitivo com os dois colegas de grupo, Luiza e Sérgio (nomes fictícios), e tem grande necessidade de vencê-los nos jogos. Para atingir seu objetivo, burla as regras. Mesmo quando as regras são combinadas ou sugeridas por ele, quer mudá-las quando se vê na situação de perder. Não vê problema em “roubar” para que seja possível ganhar.
Lúcio busca a liderança na relação com Sérgio. Há uma cena de jogo simbólico em que Lúcio persegue Sérgio e o rende dizendo: «perdeu, playboy”. Essa cena de perseguição e luta é repetida com algumas variações: quando brincam com fantoches de bichos; quando brincam de loja de brinquedos e surge uma cena de roubo; com as armas em miniatura do jogo Clue; na brinquedoteca quando brincam com uma arma especial. Nesses jogos simbólicos Lúcio assume o domínio da cena no papel do policial, do segurança, e coloca Sérgio no papel do ladrão. Ao longo das sessões, Lúcio e Sérgio disputam os brinquedos, quem é mais forte, quem sabe escrever japonês. A disputa entre eles pode ser vista como uma expressão de afetividade, uma forma de se aproximarem, de estarem juntos jogando, brincando.
Na relação comigo Lúcio também assume uma postura competitiva, sempre querendo me vencer nos jogos. Algumas vezes se dirige a mim em tom de ordem e tenta conduzir a dinâmica da sessão. Criou uma música para mim: “Morre Bete hahaha/Sangue da Bete/Morre Bete”. A criação de músicas foi uma atividade que se destacou como um dos poucos momentos em que sua escrita aparecia. Primeiro Lúcio cantarolava e depois escrevia a letra. Animado com suas criações, desejava mostrá-las a sua mãe. Ela, entretanto, as recebia com olhar crítico. Aqui foi possível observar a dificuldade da mãe em reconhecer valor às criações de Lúcio.
Lúcio parece querer se vingar tanto de Sérgio quanto de mim. Pode ser que ele esteja nos elegendo como substitutos para transferir experiências vividas de dominação e controle, encontrando oportunidade no jogo para transformá-las (Freud, 1920/1996). Podemos pensar a onipotência de Lúcio como uma tentativa de controlar o real, as tensões do seu entorno familiar, ao mesmo tempo em que não suporta ficar no não-saber, vivido com muita angústia e que se traduz em agitação. Assim, talvez Lúcio traga para as sessões aquilo que não é possível viver em suas relações familiares, mas que é tão necessário para a expansão de suas possibilidades de simbolização.
Observamos que Lúcio tende sempre a construir as brincadeiras buscando um lugar de centralidade nos acontecimentos, que lhe permitam ter controle e poder, o que muitas vezes o leva a excluir a participação do outro ou à tentativa de subjugá-lo. Mas, ao mesmo tempo, clama pela minha presença nas brincadeiras.
Entendemos que as brincadeiras comigo expressam seu trabalho psíquico em torno da experiência de onipotência como ilusão, que, na compreensão de Winnicott (1975), é tão necessária quanto a desilusão, e está na base da construção da transicionalidade. Nesse sentido, o espaço do brincar, como fenômeno transicional, pode contribuir para a construção de estratégias para que Lúcio possa relativizar sua onipotência.
Segundo Winnicott (1994), no início da vida psíquica o bebê vive a ilusão de que os objetos externos, como o seio materno, são uma criação sua. A maternagem suficientemente boa sustenta essa ilusão primária, ilusão de que o real pode ser controlado por ele. Nessa fase prevalece o narcisismo infantil. Essa experiência de ilusão será gradativamente substituída pelas experiências de desilusão, na medida em que o bebê puder lidar com a ausência da mãe, aceitando a falta que esse reposicionamento materno acarreta. Os fenômenos transicionais contribuem para o processo de substituição da ilusão onipotente por outra forma de relação com os objetos. O brincar permite à criança construir alguma coisa a partir da sua onipotência no encontro com a realidade do objeto. Os atendimentos em grupo contribuem para esse processo, pois colocam as crianças em relação com os objetos reais e com o outro, num espaço de convivência e negociação.
O futebol: em busca do pai
O interesse de Lúcio pelo futebol se manifestou de diversas formas ao longo dos atendimentos. Como era um ano de Copa do Mundo, Lúcio traz o álbum de figurinhas que está colecionando para mostrar aos colegas. Folheia o álbum quase completo, orgulhoso, e faz muitos comentários sobre as seleções.
Um dia, inesperadamente, surgem duas bolas em nossa sala. Ao vê-las, Lúcio quer imediatamente jogar na pequena área externa. Proponho outras atividades dentro da sala, mas ele não aceita. Que fascinação pela bola! Vou interagindo com ele, buscando um meio para integrar o jogo dele com nossa sessão, sem sucesso. Através do objeto trazido por ele em sessão anterior, o álbum da Copa, encontro o caminho. Começamos registrando no quadro os nomes dos jogadores das figurinhas que faltavam para ele completar o álbum. Aos poucos, vencendo sua resistência inicial, Lúcio vai se envolvendo na proposta. A partir da minha provocação – Como você escalaria a seleção? – faz uma escalação para uma seleção que seria uma seleção do mundo porque teria jogadores de diversos países. Desenha o esquema tático no quadro (4x3x3) e escolhe os jogadores para cada posição, inclusive os jogadores reserva. Tudo isso saindo para jogar e voltando para a sala para continuar a escalação.
Nessa sessão buscamos integrar a área externa com a área interna da sala, pela transformação do seu desejo e do seu saber sobre o jogo de futebol em outro objeto de conhecimento: a escalação da seleção do mundo. Para Alícia Fernández (2010), é importante trabalhar na relação saber-conhecer privilegiando o ato de escolher, que é a função precípua da inteligência. “O desejo propõe tudo. A inteligência vai ter que escolher algo e isto tem a ver com a autoria. Poder situar-se na potência: mas para isto tem que sair da impotência e da onipotência” (p. 102). Esse é o processo envolvido no aprender: parte-se da escolha de um desejo e da busca de uma possibilidade de realização.
Em outra sessão individual Lúcio trouxe novamente o futebol como temática. Estando atenta e aberta ao que a criança traz de inesperado, pude escutá-lo como sujeito de uma fala ou de um desejo (Mannoni, 1999). Por ser uma sessão de reposição ficamos em outra sala. Lúcio explora a sala e os materiais calmamente, pois tudo é novo naquele espaço. Sem me antecipar a sua ação, sustentando esse tempo, preservo o espaço de escolha dele. Até que ele escolhe o jogo de futebol de botão. Mais uma vez, constato que as crianças sempre nos mostram o caminho! É uma questão de exercitarmos uma escuta sensível que seja capaz de perceber. Foi uma escolha muito apropriada para a continuidade do nosso trabalho porque o jogo proporciona a passagem do futebol de campo, onde se atua com o corpo, para um espaço de representação do jogo. Montamos os times sobre a mesa pensando no esquema tático. Lúcio me ensina as regras e pode exercer a sua potência ao me ensinar. Já não trapaceia mais, ao contrário, zela pelas regras.
No jogo de futebol de botão Lúcio novamente pode trabalhar a relação saber-conhecer (Fernández, 2010), explorando outra forma de fazer o que lhe dá tanto prazer. Ele pode passar da vivência do jogo de futebol com o corpo para um espaço de representação do jogo que possibilita a transposição de noções, regras e técnicas, enfim, de seu saber. A observação do campo de fora coloca Lúcio em uma postura reflexiva em relação ao jogo, aproximando essa experiência do exercício teórico em que é necessário ver o objeto com certo distanciamento. Como num movimento de simbolização, o jogo de futebol de botão pôde substituir o jogo de bola na área externa.
Pensamos que a forte ligação de Lúcio com o futebol esteja motivada pela busca de identificação com seu pai, que tem intensa ligação com o jogo. Lajonquière (1999) nos mostra que a criança quando brinca se inscreve num passado ao mesmo tempo em que se projeta para um futuro, na tentativa de responder à demanda dos adultos significativos para ela. Isso se dá através da inscrição simbólica dessas relações no psiquismo pela via das identificações. É entrando em uma história paterna que poderá emergir como sujeito do desejo. Entretanto, a relação conflituosa entre seus pais dificulta a operação da função paterna, que se traduz em paredes simbólicas estruturantes para o psiquismo (Sousa, 2018).
O discurso de sua mãe, que atribui todas as características ruins do filho ao pai, dificulta uma identificação positiva de Lúcio com seu pai. A desordem de comportamento de Lúcio pode ser pensada como uma forma de reação ao discurso da mãe (Manonni, 1999). A criança muitas vezes se situa a partir da fala dos pais, precisa de suas palavras para organizar o que sente. Na impossibilidade de ser visto e falado pela mãe como sujeito, de forma que possa compreender a tensão de que é objeto, uma vez que a mãe o coloca dentro da área do conflito dela com seu pai, Lúcio reage com seu mal comportamento.
Deslocamentos alcançados
Ao final de um ano de atendimentos, foi possível observar algumas mudanças importantes.
Lúcio foi deixando de escolher os jogos de regras, em que há um vencedor e um ou mais perdedores, e foi abrindo espaço para outros brinquedos como panelinhas, lego, mágicas com cartas do baralho, que propiciam um brincar mais criativo e autoral. As experiências com esses brinquedos permitem um distencionamento da busca de vencer como forma de ter controle da situação e propiciam um espaço de autoria onde pode se arriscar numa criação sem tantas garantias. Dessa forma, Lúcio abriu outros espaços para si.
Foi possível observar nos atendimentos os movimentos de repetição na escolha e na forma de brincar com os brinquedos. Diante de uma boa oferta de brinquedos, é comum as crianças escolherem repetidamente o mesmo brinquedo por algumas sessões. Há brinquedos como o Lego, por exemplo, que lhes permite criar histórias, espaços e personagens e vivenciarem outras possibilidades de relação, podendo elaborar suas experiências. Foi brincando com o Lego que a competição foi dando lugar à cooperação entre Lúcio e Sérgio. Os dois meninos conseguiram passar da brincadeira de guerra, em que se relacionavam como rivais, para outra brincadeira em que experimentaram a relação entre irmãos. O laço fraterno e solidário entre eles prevaleceu.
Houve uma ampliação nos interesses e perspectivas de Lúcio, expressa nos planos que traça para si, descolando-se um pouco da busca de identificação com seu pai: “Não quero mais ser jogador de futebol. Quero ser geólogo. Tenho que estudar muito geografia” (registro da sessão individual de 17/09/18).
O acompanhamento à mãe também contribuiu para que mãe e filho pudessem vivenciar novos modos de se relacionar. Lúcio pôde se mostrar para ela para além dos sintomas, das queixas, do diagnóstico, enquanto sua mãe pôde vê-lo de outra forma, expressando admiração pelo filho, por suas ideias, projetos e ações.
Considerações
Esse artigo pretendeu explorar algumas possibilidades de diálogo e contribuição entre os campos da Psicopedagogia e da psicanálise, buscando compreender os fenômenos de subjetivação envolvidos no brincar e no conhecer, assim como suas relações. Para isso, buscou-se aprofundar a compreensão do brincar no processo de constituição do sujeito, fundamental para a construção do conhecimento, uma vez que, como nos diz Paín, “o conhecimento sempre implica um sujeito, capaz de conhecer” (Paín, 2012, p. 17).
A relação entre os dois campos de conhecimento, psicanálise e Psicopedagogia, marca a própria história da constituição da Psicopedagogia como campo específico (Lelis, 2008). A psicanálise amplia as possibilidades de compreensão da criança, enquanto sujeito singular, em sua atividade de brincar, em suas construções e criações. Nesse sentido, a ampliação do diálogo entre a Psicopedagogia e a psicanálise pode trazer novas ideias e recursos para o campo da educação de crianças e para a compreensão dos problemas de aprendizagem.
A ampliação da dimensão do aprender ou do conhecer, no sentido de incluir a criatividade, a invenção e o brincar, assim como a subjetividade e o saber, repercute na maneira como se entende o não aprender. Assim, o diagnóstico e a intervenção psicopedagógica não se limitam ao sintoma apresentado. Ao contrário, ampliam-se buscando abarcar as três dimensões do sujeito cognoscente (racional, desiderativa e relacional), propiciando espaço para que o sujeito crie novos olhares sobre si mesmo, sobre seu pensar e seu fazer.
Acreditamos que o caso apresentado pôde evidenciar essa ampliação de olhar. O espaço da intervenção psicopedagógica permitiu que Lúcio vivenciasse o lugar de sujeito, a relação comigo e com os colegas de grupo, sua autoria de pensamento e seu saber. Assim, Lúcio pôde fortalecer sua posição subjetiva diante do conhecimento e mobilizar seu desejo de aprender.