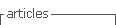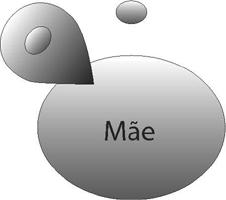Introdução
O universo da gemelaridade ocupa o imaginário dos homens desde os tempos mais remotos, o que pode ser observado, por exemplo, nos mitos, nas regras de diversas culturas e na literatura, remetendo à ideia de duplo, de completude e de Unheimliche. Mas, nas últimas décadas, a gemelaridade vem marcando uma nova presença, visivelmente expandida, na medida em que seu caráter natural se vê “transbordado” pela intervenção do avanço tecnológico da biomedicina. Ao promover a proliferação de gestações gemelares, as técnicas mais recentes de reprodução assistida introduzem uma nova proporção de múltiplos na sociedade. Embora venha se debruçando sobre essas questões, a psicanálise ainda não se aprofundou suficientemente na complexidade resultante dessas filiações gemelares e nas particularidades dessas configurações familiares. Pais fascinados e horrorizados com seus múltiplos encontram dificuldades significativas para exercer suas funções e chegam a nossos consultórios muitas vezes exaustos, em busca de auxílio.
Inquietas com essa demanda, formulamos algumas questões que consideramos centrais para esta reflexão: como ficcionalizar a facticidade dessa ingerência da biomedicina nas famílias – por exemplo, com a substituição do parceiro no ato sexual pelo sêmen manipulado laboratorialmente? Como jogam nesse contexto as promessas idealizadas da medicina para “resolver” a infertilidade? Como as mulheres processam as intervenções no real de seu corpo em direção ao simbólico, ou seja, em seu “vir a ser” mãe? E, ainda, que efeitos se produzem na subjetivação dos bebês?
A partir da escuta de pais de gêmeos e múltiplos, surgiram interrogações sobre as configurações edípicas que se operavam nessas famílias, principalmente a respeito da constituição do sujeito pensada da ótica do falo. Até que ponto ela se sustenta diante dessa clínica com múltiplos e, em particular, com os nascidos por meio de técnicas de reprodução assistida?
Desdobrando as questões
Os relatos dos pais com filhos múltiplos costumam vir acompanhados por uma pré-história de privações: gravidezes interrompidas, filhos natimortos, perda de embriões durante a gravidez ou ainda a difícil decisão sobre quantos embriões serão implantados no útero da mãe.4 Assim, não é incomum que a multiplicação de filhos tenha como correlato uma história de perdas e lutos que nem sempre se conseguiu elaborar, constituindo-se num elemento importante de sobredeterminação simbólica na construção do mito familiar. A tecnologia médica promete “resolver” o desejo de filho, muitas vezes ao custo de gestações gemelares, que privam os pais da experiência de ter um filho que seja um produto único e original – o falo desejado.
A clínica mostra que, entre o discurso que antecipa a multiplicação e sua precipitação como acontecimento, abre-se uma fenda que o simbólico e o imaginário não conseguem recobrir. Os nascimentos múltiplos substituem a privação – muitas vezes de anos – por uma saturação do desejo de filho, produzindo um excesso difícil de administrar. Em alguns casos, a gravidez múltipla aparece como um sacrifício necessário do casal, principalmente da mulher, para compensar a privação. Esses tratamentos médicos, muitas vezes tortuosos, se oferecem como uma premiação acompanhada de um sacrifício.5
Além disso, escutamos mulheres que, engajadas na carreira profissional e tendo decidido engravidar mais tarde, demandam do médico resolver num “ato único” a maternidade, ou seja, uma gravidez de vários filhos, na tentativa de concluir numa única etapa a formação da família sonhada. Não se trata de uma demanda de filho, mas de uma demanda de prole – um coletivo que pode borrar a singularidade de cada bebê. A máxima capitalista “Time is money” ressurge aqui para acelerar e fazer render o tempo de gravidez e de primeiros cuidados com os bebês. Uma versão, por sua vez, encobridora de angústias relacionadas à maternidade, como o temor de não poder engravidar mais tarde ou o medo ligado à fantasia de retaliação devido ao descompasso entre a prontidão biológica e o desejo. Uma formulação talvez mais acorde com a velocidade sideral dos tempos neoliberais e mais descompassada do tempo quase detido que requerem a maternagem e a incubação.
No contexto das reproduções assistidas, ter um filho ou uma prole é considerado muitas vezes um fim concreto a alcançar, que, quase como uma soldagem, superpõe o desejo de filho ao desejo de gravidez. As crianças que vingam nesse cenário podem ganhar o status de “crianças perfeitas”, que surgem como objeto da realização de um ideal porque nascem sob a aura de um milagre, dado que, supostamente, “venceram” a infertilidade. Crianças nascidas sob a marca da idealização. Sabemos que nada é mais sujeito à frustração e à depressão que essa colagem ao ideal. Mas, se o êxito médico atende ao desejo narcísico de gravidez, que lugar resta ao investimento libidinal parental nos filhos?
No início de 2011, a imprensa e o público se chocaram com o caso de um casal paranaense que, depois de se submeter a técnicas de reprodução assistida, teve trigêmeas e quis dar uma delas para adoção. As meninas nasceram em janeiro, num parto prematuro, e ficaram quase um mês na uτι neonatal de uma maternidade de Curitiba. Antes do nascimento, os pais já haviam manifestado a intenção de entregar um dos bebês para ser adotado, mas, “denunciados” pelos funcionários do hospital ao Conselho Tutelar por “rejeitarem” uma das filhas, supostamente a mais frágil, perderam a guarda das três. Em fevereiro, as meninas foram colocadas num abrigo por intervenção judicial. Os bebês ficaram afastados dos pais por dois meses e meio, com visitas restritas a duas horas semanais. Em maio, a justiça deu a guarda temporária a parentes e permitiu que os pais as visitassem diariamente. Desde o início, os pais se declararam arrependidos de haver desejado dar uma das crianças para adoção e tentaram reaver a guarda das três filhas. O médico que acompanhou o casal em todo o processo da reprodução assistida disse à imprensa: “Eu nunca vi um casal rejeitar os filhos após um tratamento para engravidar. Muito menos rejeitar um ou rejeitar dois. Isso realmente é uma novidade” (Brum, 2011). Uma novidade, acrescentamos, que não reconhece o excesso oferecido pela medicina para responder ao desejo de filho com uma gravidez de trigêmeos e que interpreta como ingratidão dos pais o desejo de cuidar só de dois. O discurso médico e a perseguição moralizante do discurso social renegam a sobrecarga econômica e afetiva que implica maternar três crianças de uma vez só.
Ao tentar assegurar a todo custo a paternidade e a maternidade no registro biológico, a medicina acaba por excluir a reprodução do campo do simbólico, que, como sabemos, é primordial na constituição do sujeito. A fertilidade não pode ser entendida em termos puramente fisiológicos, porquanto inclui um campo de significações não menos importantes, entre elas a resolução da feminilidade e do papel de filha e a assunção do papel materno. Escutamos no relato dos pais que as promessas da biotecnologia acabam reduzindo as questões da origem ao registro do real biológico: uma vida gerada em laboratório com a presença de uma equipe médica, com material genético manipulado, garantindo com isso a filiação biológica. Vidas geradas sob o controle quase absoluto da ciência. Mas que lugar resta aí para a incerteza do ato sexual, para aquilo que é da ordem do imponderável ou do inconsciente? Os processos de reprodução assistida, atravessados pela “certeza da tecnologia”, tentam excluir o enigmático da origem da vida, que volta depois com as perguntas das crianças sobre a origem dos bebês. Que impasses se colocam na subjetivação das crianças nascidas nesse contexto? Que teorias sexuais infantis elas elaboram?
Curiosamente, não é raro que a história dessa origem fique como um segredo guardado a sete chaves na família. Os pais têm dificuldade para falar com as crianças sobre essa pré-história, o que denota os empecilhos que encontram para ficcionalizar essa origem e fazer dela uma transmissão. “As meninas nasceram por ponte aérea”, comenta um pai, aludindo à falta do ato sexual na gestação de suas gêmeas.
Ainda são muito incertas as implicações subjetivas dessa conjuntura, seja para o casal, seja para o(s) bebê(s). Obviamente, não podemos tomar a frase desse pai ao pé da letra, isto é, entender que a falta do ato sexual equivale à ausência da sexualidade, pois esta existe e se manifesta num campo mais amplo, como no desejo parental, no reconhecimento de um lugar do homem inscrito no desejo da mulher ou no lugar que a mulher ocupa no desejo do homem. No entanto, é fundamental entender que esse pai fala de uma distância do papel de genitor. Certamente isso não o torna menos pai, mas que efeitos tem na sua subjetividade ou no exercício efetivo de sua paternidade?
O lugar da origem: cena primária vs. reprodução assistida
Ao falar desses temas da contemporaneidade, nós, psicanalistas, precisamos estar atentos para não cair num discurso moralizante e conservador – por exemplo, naturalizando o ato sexual genital. A reprodução assistida representa de fato um dispositivo novo nas relações sociais que regulam a procriação e a sexualidade em nossas sociedades, possibilitando que mães sozinhas, casais homoafetivos ou mulheres mais velhas engravidem. O que nos interessa destacar é o que surge num horizonte que está além ou aquém das reflexões bioéticas, cujo campo de indagações não inclui o desejo inconsciente nem a subjetividade. Como psicanalistas, nossa tarefa é nos mantermos abertos à escuta das novas formas de manifestação que o inconsciente encontra nessa rede de relações, uma vez que a reprodução assistida pode se oferecer como um salto para driblar os obstáculos que a sexualidade encontra por efeito do recalque. Que significado adquire para o casal a ajuda médica para engravidar? Que lugar fica para o desejo feminino e o masculino? Interessa-nos preservar a condição do sujeito desejante, ouvir a singularidade das falas dos protagonistas e compreender os desdobramentos psíquicos dessas gravidezes múltiplas, desse manejo de vida e de morte que fazem os médicos, e dos efeitos que se produzem nos bebês. Apenas para citar alguns aspectos: o que implica, para eles, ser resultado de uma cena de laboratório, e não de um ato sexual? Qual a implicação de serem “sobreviventes” entre embriões que não vingaram? Agora, os médicos começam a se preocupar com essas questões, visto que as mães enlutadas pela perda de embriões têm dificuldade para investir libidinalmente no(s) bebê(s) que continua(m) se desenvolvendo – e esse é um dos momentos em que podem pedir ajuda a um psicanalista. Mas, como mostramos a partir do exemplo do casal de Curitiba, até aqui as perdas e o luto têm atraído mais a atenção dos médicos que os excessos produzidos.
Ao pensar a questão das origens, é preciso fazer uma distinção importante. Em psicanálise, referimo-nos à cena primária e ao ato sexual, e não à cena de reprodução, embora, para Freud, desde os Três ensaios (1905/1996), a reprodução se constitua como um elemento que marcará a diferença entre a sexualidade infantil – perversa polimorfa – e a sexualidade adulta. A cena primária, matriz do pensamento simbólico da criança, refere-se a um ato sexual entre os pais, e dela a criança se encontra excluída. Como sabemos, uma exclusão necessária e constituinte, que abre todo o campo da fantasmatização.
Já na reprodução “assistida”, estamos diante de um homem reduzido ao sêmen, de uma mulher reduzida a um óvulo e um útero, de um ou vários embriões e de uma equipe médica. Os relatos dos pais nos levaram a perguntar: o casal assistido pela equipe estaria no lugar do terceiro excluído, ou seja, na mesma posição que a criança ocupa na cena primária? A objetificação dos progenitores os reenviaria a uma posição infantil? Essas perguntas surgiram ao percebermos nos atendimentos a dificuldade dos pais para subjetivar a história desses nascimentos, muitas vezes envergonhados dessa origem. Enquanto percebíamos os pais infantilizados ou silenciados frente ao pedido de falar de sua experiência nessa gestação/tratamento médico, escutávamos que o lugar da potência e da criação implicadas no ato sexual parecia ter sido deslocado para a equipe médica, que “podia” tudo pela observação e pela manipulação.
No recorte particular que fizemos dessas perguntas, também seguimos a trilha percorrida pelas crianças na constituição de sua subjetividade. Por isso nos interessou ouvir o que elas diziam sobre a cena primária, isto é, como elas fantasmatizavam sua origem.
1º caso. Uma menina de 9 anos, trigêmea, concebida por inseminação artificial, desenhando um sonho de angústia representou os irmãos no zoológico e um leão prestes a sair da jaula em que estava encerrado. Descrevendo seu desenho, ela cometeu um ato falho e, em vez de jaula, disse “geladeira”, de onde o leão queria fugir. Tratava-se aí da representação do pai, numa tentativa de encontrar um lugar para essa origem da inseminação? O que nos chamou a atenção foi esse significante estranho ao universo do zoológico. A geladeira, representante da criogênese, nos pareceu uma tentativa de ficcionalizar algo de sua origem laboratorial.
2º caso. Um menino de 8 anos, trigêmeo, também gestado por reprodução assistida, desenha numa sessão a “lesma gigante do seu sonho”. Dessa lesma “monstruosa” saíam muitas “pessoinhas”, que viravam uma gosma. O sonho parecia figurar uma cena de reprodução assexuada, em que aparecia a questão da multiplicação. A lesma soltava um ácido que produzia réplicas indefinidamente, e todas as “pessoinhas” viravam novamente uma gosma, aludindo tanto à dificuldade simbólica de fazer uma separação (entre as “pessoinhas”) quanto a uma multiplicação que produzia réplicas indefinidamente. Em outra sessão, ele comentou: “Eu nunca vou me casar ou, se eu casar, só se for comigo mesmo”.
A gemelaridade e as novas configurações familiares
Como já dissemos, os recursos que a medicina vem oferecendo à reprodução assistida abriram portas para casais constituídos por mulheres, mães solo e, mais recentemente, pessoas transgênero. E a nova legislação sobre adoção também permite que casais homoafetivos (de mulheres ou de homens) possam criar filhos. Essas novas configurações familiares trazem ainda intrincadas questões subjetivas, como qual dos membros do casal engravidará, quem será o doador de óvulos ou de esperma, e a decisão entre um doador anônimo, de um banco, ou alguém conhecido. No caso de casais constituídos por duas mulheres, além dessas, pode-se colocar a questão de qual delas – ou ambas – amamentará(ão) os gêmeos e como se distribuirão as funções parentais e os cuidados com os bebês. “A ausência de sêmen nos colocava nesse lugar de pleno desconhecimento”, diz Marcela Tiboni (2019, p. 20) num livro que relata a experiência de duas mães que tiveram gêmeas.
Que lugar terá o doador se for algum amigo ou parente? É preferível que ele seja anônimo e que o sigilo esteja garantido? A princípio, a solução de um banco de sêmen anônimo resolveria a questão. Mas o espectro do pai tem retornado de diferentes formas. Uma delas surgiu com a demanda dos filhos, já crescidos, de conhecer seu “pai de sêmen”. Os jovens alegam ter sido privados desse direito como os filhos de desaparecidos: “Estamos impedidos de saber quem é nosso pai”. Do outro lado, os homens que fizeram a doação anônima alegam que agiram pensando não nos filhos, mas na liberdade das mulheres que queriam gestar sozinhas sem depender de um homem. Atualmente, no Brasil, há um impasse nesse campo: a medicina garante o sigilo dos doadores, mas o direito reconhece que, se o filho quiser saber sua origem, não deverá prevalecer a garantia do anonimato. E nós, psicanalistas, como escutamos o sofrimento desses filhos e desses pais e mães (Nunes, 1998)?
Nessas novas configurações familiares, fomos surpreendidas por famílias constituídas por duas mães ou por dois pais que têm gêmeos do mesmo sexo, pelo espelhamento que pode se produzir dos filhos com o casal parental. Inicialmente, chamou-nos a atenção o espelhamento entre os gêmeos, muitas vezes um sendo o espelho vivo do outro. O que estamos vendo agora é uma duplicação especular, como se os dois pais replicassem a especularização dos gêmeos meninos e duas mães replicassem a duplicação das meninas. Essas configurações familiares desafiam os clínicos a pensar nas novas formas de subjetivação: novas alianças e rivalidades se estabelecem e nos questionam acerca da configuração edípica que decorre daí.
Tudo é ainda muito novo, e a surpresa não é uma boa aliada para a reflexão, que demanda tempo, paciência e distância. Em 2018, pela primeira vez no Brasil, duas mulheres que tiveram gêmeos conseguiram na justiça licença-maternidade dupla. Tudo indica que, nesse caso, o fato de precisar cuidar de duas crianças simultaneamente e a justificativa de que ambas as mães amamentariam concorreram para que o juiz deferisse a solicitação. Mas as questões continuam se abrindo: cada uma das mães amamentaria um bebê ou se alternariam as crianças? Que nome e função cada mãe terá com cada uma das crianças e com o casal? Tem sido interessante observar que, por enquanto, cada família tem construído uma solução singular (Tiboni, 2019).
Temos percebido, no entanto, que a falta de uma formação do psicanalista para escutar e acolher essas famílias pode redundar em intervenções normativas e patologizantes, que tendem a adaptar as famílias e as crianças ao modelo de família tradicional, constituído por uma mãe, um pai e um filho por vez. Isso, que já é frequente na comparação que os clínicos fazem entre crianças gêmeas e crianças únicas, por tomar como critério indicador de normalidade os dados de uma população majoritariamente constituída por indivíduos ímpares, deve somar-se à dificuldade de termos ferramentas teórico-clínicas para pensar as novas configurações familiares. Por isso, além de ser uma necessidade da família, é também uma tarefa urgente para a formação dos psicanalistas clínicos da contemporaneidade poder acompanhar e acolher com a escuta a constituição subjetiva de seus membros.
O novo, o traumático: os filhos da inseminação artificial
Sabemos que a história da criança remonta à história dos pais individualmente e em conjunto, estando essa origem marcada no inconsciente do filho por uma linhagem determinada pelo desejo do Outro. O discurso que antecede a chegada de um filho contém tanto as expectativas dos pais como as das gerações que o precederam. Nessa perspectiva, acreditamos que famílias marcadas pela presença de gêmeos constroem ao longo das gerações um saber singular sobre a gemelaridade. Portanto, é possível supor que a questão da multiplicidade/simultaneidade tenha inscrito ao longo de gerações um lugar no discurso desses pais/dessa família. Mas o que acontece quando a geme-laridade é inédita e, particularmente, fruto de uma técnica de reprodução? Em alguns casos, esse fluxo das transmissões e das heranças estaria experimentando uma “inundação” do discurso médico, já que a reprodução assistida introduz – artificialmente – um elemento estranho e desconhecido à novela familiar. Trata-se de um elemento novo, sem representação e, portanto, traumático. Novamente pensando com a clínica: os pais de múltiplos que buscam atendimento psicanalítico em geral procuram ajuda para processar e elaborar esse traumático; demandam ajuda para “inventar” um saber sobre a criação desses filhos, pondo-nos a pensar conjuntamente sobre a complexa tarefa de construir uma parentalidade nessas condições particulares. “Fizemos do nosso apartamento um chiqueirinho”, dizem os pais de trigêmeos que trazem um dos filhos à consulta. Eles disseram também que, para se antecipar a certos problemas, desde que os bebês nasceram, quando choravam, não os pegavam no colo, mas colocavam a mão em sua barriga. Era o modo singular que tinham encontrado para resolver a equação dois (pais) para três (bebês).
Em outra família de trigêmeos, os pais relatam que foram orientados a não deixar as crianças na mesma classe na escola, mas se perguntaram: “Será que precisamos separá-los?”. Ainda assim, encontraram uma escola que tinha pelo menos três turmas da mesma série. Mas, no ano seguinte, a escola ofereceu apenas duas turmas para a mesma faixa etária. E os pais então questionaram: “Precisamos de outra escola? Juntamos dois e deixamos um sozinho? E, nesse caso, qual dos três?”. São orientações genéricas e normativas, que nem sempre respondem à singularidade de cada família. A análise pode ser o espaço onde os pais venham a se interrogar sobre essas decisões e buscar sentidos e saídas mais de acordo com seus fantasmas e seus desejos.
Em 2010, o jornal Folha de S. Paulo publicou uma matéria sobre duas irmãs gêmeas que nos surpreendeu. A mãe contava que haviam disponibilizado apenas uma vaga na escola para as duas filhas. Consequentemente, a mãe fazia com que elas se alternassem na frequência escolar, segundo um critério lógico e contável. Assim, uma não tinha que “se sacrificar” em benefício da outra (Barbosa, 2010). Isso apenas para citar algumas “invenções práticas” que permeiam o dia a dia desses pais na tentativa de responder às “invenções psíquicas” que a paternidade demanda nesses casos – uma busca de novos arranjos simbólicos que deem conta desse excesso difícil de alocar.
Não só os pais, mas também as crianças são desafiadas nessa jornada. E por que não incluir aí também o Estado, as escolas, os pediatras e os psicanalistas? Os dispositivos com que estes contavam até então vão se revelando insuficientes nesse cenário, e é preciso repensá-los diante desse novo real. Um exemplo dessa dificuldade surgiu para uma família com filhos gêmeos que buscou o programa de bolsas numa escola privada. Esse programa destinava apenas uma bolsa por família e, mesmo no caso de irmãos gêmeos, a escola não flexibilizou essa regra.
Na clínica psicanalítica, nos vemos confrontados com a difícil decisão sobre quem e como atender em casos de crianças gêmeas. Ainda que a família tenha escolhido um deles como paciente, nada nos garante que essa será a direção, e não é raro que em algum momento os pais solicitem um atendimento para a dupla. Nas escolas, a praxe tem sido separar irmãos em turmas distintas. E nós, como analistas, também entendemos que é necessário procurar um analista para cada criança? Temos pensado que nosso arcabouço conceitual está pautado na ideia de um indivíduo único e singular, mas, quando se trata de gêmeos, essa configuração pode não estar dada no início e ser justamente o que indica sua conclusão. Por isso, em alguns casos, se faz necessário o tratamento conjunto dos irmãos e mesmo da família, num momento inicial ou em momentos-chave ou pontuais de separação que surgem durante um percurso.
Por isso, ao longo desta pesquisa, que começou em 2011, fomos experimentando diferentes formatos de atendimento que nos permitissem levar em conta as particularidades que as famílias de gêmeos e múltiplos apresentavam, e constatamos a importância de permitir que, em certos casos, entrasse mais de um.
Temos trabalhado com a hipótese de que a gemelaridade e a paternidade de múltiplos requerem um trabalho adicional de subjetivação, resultante da necessidade de estabelecer e simbolizar laços que se constroem na simultaneidade. Se a chegada de um irmão é sempre traumática e requer da criança um enorme trabalho de simbolização, quando ela vem com um ou mais irmãos, o trabalho de constituição do eu se vê sobrecarregado. A rigor, os gêmeos se confrontam com a mesma situação que um segundo ou um terceiro filho. A diferença é que, para os gêmeos, isso se dá simultânea, e não sucessivamente. Em alguns casos, falta o lugar da primogenitura; em outros, quando os gêmeos não são os primeiros a nascer na família, o que fica complicado é o lugar que eles ocupam na série dos irmãos. São os segundos, os terceiros? “Passei de um para três”, dizia a mãe de duas gêmeas. São comuns também as disputas entre eles: “Eu sou o mais velho porque nasci primeiro” ou “Eu sou o primeiro porque fui concebido antes”. Essa discussão, que remonta aos tempos bíblicos com Esaú e Jacó, os quais disputaram a primogenitura, fala da necessidade de fazer uma contagem que diferencie o um do dois, já que a contagem no desejo parental se inicia nesses casos diretamente com o par. Tudo indica que sintomas parentais dessa questão se manifestam com formações de compromisso como vestir as crianças com roupas iguais, dar nomes desdobrados ou designá-los no plural como “os gêmeos”.
Que invenções essas famílias produzem para fazer inscrever simbolicamente como traço unário as marcas que singularizam cada filho? Como se produzem os enlaces da novela familiar? Que caminho se cria para fazer passar esse real para o simbólico? E que suplemento é necessário quando a concepção de múltiplos se faz pela via da reprodução assistida? Acreditamos ser importante uma reflexão dos psicanalistas sobre esse trabalho de subjetivação adicional que implicam a gemelaridade e a parentalidade nessa condição particular. Ainda é difícil identificar esse percurso, considerando que acompanhamos a primeira geração nascida nesse contexto da biomedicina. É cedo para reconhecer ou supor os efeitos dessas crianças e jovens nas gerações futuras. Relembrando Lacan (1967/2003), se são necessárias três gerações para o advento de uma psicose, serão necessárias também três gerações para que a gemelaridade – produto da reprodução assistida – se inscreva como traço unário, enlaçando-se à cadeia simbólica ou permaneça forcluída? Uma grande questão continua em aberto: esse acesso ao simbólico seria um elemento determinante no processo de subjetivação dos bebês?
A contagem e os movimentos de subjetivação dos filhos múltiplos
O que é necessário para que uma mãe possa subjetivar mais de um filho ao mesmo tempo? Como vários filhos simultâneos entram na contagem do desejo materno?
Partindo do pressuposto de que a criança entra na conta do Outro primordial como falo imaginário da mãe, ou seja, como aquilo que supre a carência materna, entendemos que, para entrar nessa conta, o bebê não pode ser comparado a outros objetos. A criança precisa ser para a mãe um objeto entre todos os outros, um objeto sem equivalentes. A lógica fálica só admite um lugar que é equacionado com um filho. É por isso que nos referimos à equação falo = bebê. Ser esse objeto supervalorizado para a mãe, “Sua Majestade, o Bebê”, o falo imaginário, tem a função de salvar a dignidade do sujeito, de fazer dele algo diferente de um sujeito submisso ao deslizamento infinito do significante. Em nossa experiência clínica, essa questão ecoa de maneira particular, pois no discurso dos pais de gêmeos a comparação entre os filhos é uma constante. E por isso justamente nos perguntamos sobre a equivalência fálica.
Ao ser contornadas por essa aura fálica do único, as crianças ímpares podem unificar seu corpo, vivido inicialmente como não integrado. Quando se trata de um só bebê, ele pode se identificar com essa imagem fálica – que Lacan (1999) define como i(a), imagem real – e, por amor, preencher a falta do Outro (ou seja, sua castração). Essa identificação soldará o corpo da criança ao falo, dando-lhe unidade, tornando-se a encarnação imaginária do sujeito. Sem essa identificação (do corpo ao falo) que constitui a substância do eu ideal, o corpo mergulha numa ausência despedaçante. Uma vez unificado, o sujeito pode vir a se nomear “eu”, distinguindo-se dos semelhantes e caminhando em direção a sua singularidade.
Situamos nossa questão partindo desse pressuposto teórico dos tempos primordiais da constituição da subjetividade: como fazem os gêmeos (ou trigêmeos, quadrigêmeos etc.) para constituir uma imagem unificada de seu corpo? Que caminhos precisam percorrer? E que imagem se constitui? Como cada um acede ao lugar do eu ideal? Como o Outro primordial opera para fazer de dois, três (ou quatro) – um com cada um (figura a seguir)?
Partindo de alguns casos clínicos e de alguns fragmentos literários, identificamos três modalidades de resolução para essas operações constitutivas.
Observamos na clínica alguns casos de gêmeos em que um dos irmãos apresenta maior dificuldade que o outro para aceder ao lugar de eu ideal. Nessa configuração, pode acontecer de os pais começarem a falar de um filho – aquele que identificam como problemático – e, aos poucos, passarem a falar do outro – o bem-sucedido. Um filho é falicizado, enquanto o outro é colocado como resto. O que aparece no discurso dos pais repercute de alguma maneira na posição adotada pelos filhos. Balbo e Bergès (1997) afirmam que, quando um funciona, o outro se apaga, funcionando como objeto a.
Em sua única referência explícita a esse tema,6 Freud (1920/2011) citou o caso de dois gêmeos em que um fazia muito sucesso com as mulheres e o outro tinha “se retirado em benefício do primeiro”, fazendo uma escolha homossexual de objeto. Freud sublinhou que essa retirada obedecia a condições psíquicas muito complexas e que intervinha tanto na escolha amorosa quanto na escolha profissional. Parece-nos que isso fala de uma renúncia de tipo melancólico. O sujeito renuncia à competição, à disputa ou à conquista de um lugar, seja com o irmão, seja com um dos progenitores. Balbo e Bergès (1997) acrescentam que um se sacrifica em benefício do outro. No romance Os gêmeos (Sand, 1953), surge essa questão quando o pai arruma uma vaga para que um dos gêmeos trabalhe, mas não consegue decidir para qual dos dois será. Um teria de se sacrificar. Nesse caso, o irmão de saúde mais debilitada se sacrificou em benefício do outro. Anos mais tarde, o gêmeo que tinha saído para trabalhar se apaixonou por uma moça. Surpreendendo a todos, o outro, frágil e doente, decide servir o exército. O motivo de tal decisão era que se havia apaixonado pela mesma moça, confirmando a hipótese de Freud, a retirada de um em benefício do outro.
Na consulta de um filho, é comum que os pais se refiram a ele comparando-o com o(s) irmão(s), assim como é comum o uso do pronome pessoal no plural: “eles” ou “elas”. Configura-se assim um lugar – “Um” – para dois ou mais sujeitos. A dupla funciona como um par que perfaz um “Um” completo. Pode acontecer que a mãe devolva uma única imagem fálica para todos os filhos e, assim, cada filho funcione como suplemento do outro; nesse caso, o “Um” resulta da reunião de dois ou mais. Se um é quieto, o outro é agitado. Se um é aplicado na escola, o outro é mais disperso. Etc.
Outra manifestação possível dessa configuração é a aglutinação, ficando todos os filhos indiscriminados aos olhos da mãe, tornando o processo de singularização muito mais complexo. Um gêmeo contou: “Quando um de nós chorava porque tinha apanhado do irmão, minha mãe colocava os dois de castigo”. Outra moça contou que havia dormido na mesma cama com o irmão por muito tempo, e que não era raro acordar e perceber a cama molhada com urina, mas nem ela nem o irmão sabiam dizer quem tinha feito xixi.
C era um menino trigêmeo de 8 anos, que tinha um irmão e uma irmã. A mãe o descrevia como o mais carente, faminto e chorão dos três bebês. O sintoma pelo qual fora trazido foi designado pelos pais como “o aperto”. O menino se queixava de que todas as roupas estavam apertadas. Tinha que usar sapatos e blusas muito maiores que seu tamanho e, mesmo assim, reclamava. O irmão tinha um sintoma oposto: queria tudo bem apertado, até que “os sapatos o machucassem”. Os sintomas complementares imaginarizavam uma diferença simbólica que não acabava de se constituir. No decorrer da análise de C, os pais solicitaram um encaminhamento para o outro filho. Tempos depois, quando já se havia encerrado o tratamento de C, foi a vez de o irmão se queixar do aperto. O sintoma tinha passado de um gêmeo ao outro. O que pensar dessa construção feita de início por um e adotada depois pelo outro em seu caminho na busca de uma individuação?
Uma terceira modalidade se produz quando, impossibilitados de subjetivar seus bebês, os pais não conseguem investir neles. O efeito é semelhante ao que acontece nos casos de autismo. Contudo, exilados do investimento parental, um desenlace possível para gêmeos é o “autismo a dois”, ou uma folie à deux, como no caso que se segue.
Nascidas no Reino Unido em 1963, Jennifer e June Gibbons isolaram-se dos outros integrantes da família e passaram a infância trancadas em seu quarto, refugiando-se uma na outra. Falavam um inglês privado, com tal velocidade que era incompreensível para todos os demais. Só se podia decifrá-lo com gravações lentificadas. Compartilhavam gestos e movimentos que faziam em perfeita sincronia, como se uma fosse um espelho vivo da outra. Não frequentaram a escola. Aprenderam a ler com cursos à distância e passaram a escrever romances e poemas. Na adolescência, começaram a cometer furtos e atos de piromania, a ingerir álcool e drogas e, após um processo criminal, acabaram internadas em Broadmoor, um conhecido manicômio criminal. Na adolescência, June escreveu:
Algo mágico está acontecendo. Pela primeira vez, vejo a Jeniffer como ela me vê a mim. Acho que é retardada, fria, não tem nenhum tipo de respeito e fala demais; mas pensa que eu sou igual. Uma reprime a outra. Ela não quer que eu sinta ciúme, inveja ou temor. Quer que sejamos iguais. Há um brilho assassino em seus olhos. Meu Deus, tenho medo dela. Não é normal. Está passando uma crise nervosa. Alguém a está deixando louca. Esse alguém sou eu. (Wallace, 1981, p. 107)
Nesses casos, é possível pensar que o Outro primordial tenha sido excluído e os irmãos se unido e criado entre si uma ilusão de completude. Mas que união é essa que não permite a entrada de um terceiro e que se manifesta de modo evidente na criação de uma língua privada só compreensível pela dupla?
Finalizando
Nosso percurso neste trabalho teve início com a constatação da ingerência da biotecnologia nas famílias e do aumento da gemelaridade. Consideramos a dificuldade de ficcionalizar essa ingerência pela intromissão que resulta na sexualidade do casal e também pelas suas consequências, isto é, as gravidezes múltiplas. A partir daí, nos concentramos nas dificuldades da parentalidade e da filiação múltipla, pensando na complexidade que implica a construção de tantos laços ao mesmo tempo. Constatamos também a maior incidência de gêmeos nas novas configurações familiares em função do que a biotecnologia faculta a casais homoafetivos, pessoas transgênero ou mães solo que desejam gestar. Depois, identificamos diferentes formas de lidar com a equação necessária à constituição da subjetividade. Finalmente, deixamos à psicanálise a pergunta: a equação falo-bebê se sustenta nesse novo cenário?