Na atualidade, o mal-estar caracteriza-se por uma gama de sintomas no campo da vincularidade (Maia & Santos, 2022; Santos et al., 2017) manifestados no plano da simbolização, do corpo, das intensidades e da ação, traduzidos como dor e como registros que dispensam séries simbólicas comuns à interpretação psicanalítica (Birman, 2021).
O mal-estar apresenta formas próprias em diferentes períodos do desenvolvimento, da infância à velhice, conforme as particularidades de cada período do ciclo vital, tanto no consultório do analista quanto em diferentes dispositivos de assistência à saúde. O mal-estar adquire contornos específicos de acordo com os processos psicopatológicos característicos da contemporaneidade. Nesse cenário, as relações entre família e sofrimento psíquico passaram a assumir proeminência para a psicanálise, o que fomenta algumas indagações: Como essas transformações têm sido amparadas pelas atuais políticas públicas de saúde mental? Como interpretar o mal-estar na infância à luz de um diálogo profícuo da psicanálise com tais políticas de atenção à saúde mental?
Novos paradigmas de cuidado e saúde mental
Novos paradigmas de cuidado, afinados com diferentes configurações familiares e sensíveis ao mal-estar na atualidade, são fundamentais para assistência. Por exemplo, expressões como clínica ampliada e integralidade do cuidado, eixos estruturantes das políticas públicas de saúde, gradualmente se popularizam.
No Sistema Único de Saúde (SUS), a integralidade corresponde a um princípio que concebe o usuário do serviço como agente biopsicossocial dotado de autonomia e a uma diretriz para nortear o trabalho dos profissionais, pois contempla o cuidado para além da simples intervenção, tanto na atenção primária quanto em outros níveis (Carnut, 2017). No âmbito da saúde pública, a Política Nacional de Saúde Mental (PNSM) de 2001, proposta a partir da Reforma Psiquiátrica, reorganizou os modelos de assistência à saúde mental e contemplou a família como importante agente no cuidado (Ferreira et al., 2019) e também como destinatária de cuidado.
A integração de crianças e adolescentes na assistência à saúde mental foi instituída a partir da Lei n. 10.216 de 2001. A Portaria n. 336, de 19/2/2002, do Ministério da Saúde, dispõe sobre as modalidades dos Centros de Atenção Psicossocial (CAPS). O referido documento especifica que o CAPS infantil (CAPSi), serviço de atenção psicossocial para atendimento ambulatorial destinado a crianças e adolescentes com sofrimento psíquico, deve organizar a rede de cuidados em saúde mental destinada a esse público. Assim, as ações do CAPSi pautam-se em atividades tais como: (a) atendimento individual, (b) atendimento em grupos, (c) oficinas terapêuticas, (d) visitas domiciliares, (e) atendimento à família, (f) atividades comunitárias com intuito de integrar a criança, o adolescente e sua família à instituição escolar e a outros equipamentos de inserção social.
Além dessas iniciativas, a fim de aperfeiçoar a assistência à saúde mental, o Governo Federal instituiu a Rede de Atenção Psicossocial (RAPS), conforme Portaria n. 3.088, de 23/12/2011, do Ministério da Saúde. A RAPS articula equipamentos da rede de saúde local para garantir acolhimento, acompanhamento e assistência às urgências. Em 2017, o Ministério da Saúde publicou a Resolução n. 32, de 14/12/2017, que incluiu o hospital psiquiátrico especializado e o hospital-dia como componentes da RAPS. Na sequência, a Portaria n. 3.588, de 21/12/2017, instituiu o CAPS AD IV, voltado para assistência ao sofrimento decorrente do uso problemático de crack, álcool e outras drogas, como componente da RAPS.
A integração do hospital psiquiátrico e do hospital-dia à RAPS corresponde ao recrudescimento de modelos de assistência anteriores à Reforma Psiquiátrica, pois se fundamentam no paradigma asilar, hospitalocêntrico e na segregação do sofrimento mental em oposição à assistência territorial/comunitária, paradigma da Política Nacional de Saúde Mental. O CAPS AD IV prevê atendimento às urgências/emergências psiquiátricas e a presença de enfermaria para cuidado em leito, estrutura que não corresponde aos modelos de cuidado tradicionalmente dispostos na atenção psicossocial (Cruz et al., 2020).
Nos últimos anos, a cobertura e o acesso aos serviços públicos de saúde mental têm diminuído e levado à existência de vazios assistenciais: parte dos recursos têm sido destinados à manutenção de hospitais psiquiátricos e de comunidades terapêuticas norteadas pela lógica remanescente do modelo asilar. O modelo de atenção à saúde comunitária e territorial tem sido debilitado, por exemplo, por meio da supressão de equipes de Atenção Primária à Saúde (APS). Assim, tanto a Política Nacional de Saúde Mental (PNSM) quanto a RAPS têm sido colocadas em xeque, a despeito do aumento da demanda por serviços de saúde mental condicionada pelo aprofundamento das iniquidades estruturais decorrentes dos marcadores de classe social, raça/etnia, gênero e sexualidade (Dimenstein et al., 2020).
Considerando os diferentes componentes da RAPS, quais enquadres clínicos se mostram potentes para cuidar do sofrimento de crianças e de suas famílias? Fundamentados em Winnicott, dentre outros autores, as novas concepções do processo saúde-doença-cuidado, presentes nos enquadramentos clínicos diferenciados (Aiello-Vaisberg, 2017) do estilo clínico Ser e Fazer (Mencarelli et al., 2017), propõem enquadre de pesquisa/intervenção flexível e sensível às situações de vulnerabilidade.
Este estudo teórico-reflexivo tem como objetivo discutir os pressupostos conceituais e clínicos do uso de enquadramentos diferenciados como estratégia de cuidado e intervenção com crianças e seus pais. São apresentados os fundamentos para uma clínica winnicottiana do cuidar dos pais e da criança nos serviços de atenção básica em saúde e atenção psicossocial especializada, integrantes da RAPS.
Em termos metodológicos, o presente estudo teórico-reflexivo partiu da leitura da obra de Winnicott e de seus comentadores, especificamente de textos que contemplassem os conceitos de self, amadurecimento, objeto transicional, holding, a fim de articulá-los com elementos conceituais da clínica ampliada e com as diretrizes da RAPS, com intuito de propor estratégia de trabalho/intervenção junto a crianças e suas famílias.
Winnicott e a teoria do amadurecimento pessoal
A psicanálise winnicottiana oferece contribuições relevantes a respeito do crescimento pessoal do bebê e da criança que podem fundamentar a clínica ampliada de orientação psicanalítica no âmbito dos equipamentos de atenção básica ou atenção psicossocial especializada.
Ao propor sua teoria do amadurecimento pessoal, entendida como transição permanente desde a etapa de dependência absoluta à autonomia relativa, Winnicott afasta-se da metapsicologia freudiana: tanto o Édipo quanto a sexualidade deixam de ser as dimensões fundamentais do desenvolvimento. Assim, são propostas teorias e técnicas singulares que se diferenciam das posições defendidas pela Psicanálise tradicional em meados do século XX (Dias, 2008).
Por exemplo, Winnicott inclui descrições sobre o ódio inconsciente ou pré-consciente do analista em relação ao paciente, aspecto dificilmente comentado até então, porém implicitamente reconhecido por psicanalistas e analisandos nos momentos de corte/término da sessão ou da imposição de limites para a dupla. Nessas ocasiões, o analista receia inconscientemente que sua destrutividade viole os limites do setting (Ogden, 2001). A exemplo dessa contribuição inovadora, que explora as vicissitudes do ódio no analista, Winnicott propôs ângulos inovadores ao abordar a clínica a partir de sua teoria do amadurecimento pessoal.
O bebê é dotado de potencial inato de amadurecimento, mas necessita de um ambiente propício para que possa se integrar no tempo e no espaço. Do mesmo modo como o corpo paulatinamente desenvolve suas funções, o desenvolvimento emocional segue um processo evolutivo. A dependência absoluta seria a primeira condição, pois no início da vida não há separação entre o bebê e o ambiente. Inicialmente, o bebê depende tanto do ambiente físico quanto do ambiente emocional, condição que Winnicott caracteriza como dupla dependência que paulatinamente caminha rumo à dependência relativa: a mãe deve ser sensível às necessidades do bebê e adaptar-se a elas (Winnicott, 2005a).
A participação do ambiente é crucial no início da vida do bebê. Caso não seja suficientemente bom, o ambiente pode fragilizar e interromper a continuidade do amadurecimento da criança. As tendências herdadas para o desenvolvimento podem até propiciar amadurecimento biológico, mas não permitem que a criança alcance a plenitude de suas potencialidades e recursos. O ambiente facilitador possibilita ao sujeito a chance de crescer, frequentemente em direção à saúde, enquanto o ambiente que falha, especialmente na etapa inicial, provavelmente levará à instabilidade e à vulnerabilidade, constituindo as bases para o colapso futuro e para a suscetibilidade aos transtornos mentais (Abram, 2000). A capacidade de enfrentamento da criança é proporcionada por um ambiente suficientemente bom no estágio precoce do desenvolvimento. Falhas ambientais ocorrem apenas no momento em que a criança adquire condições de suportar a angústia, pois caso ocorram no estágio precoce pode haver ruptura no processo de desenvolvimento.
Aqueles que sofreram experiências perturbadoras, em virtude de ambiente vulnerável ou excessivamente intrusivo ante às suas necessidades, levam consigo as reminiscências – ou seu conteúdo – e tendem a organizar defesas psíquicas rígidas. Por outro lado, há aqueles que ocupam posição intermediária entre saúde e doença, pois, embora levem consigo marcas de agonias impensáveis (ansiedades arcaicas), apresentam defesas relativamente exitosas contra essas manifestações. No entanto, sob circunstâncias de descontinuidade e elevada tensão ambiental, podem entrar em colapso/adoecer. Essas pessoas que ocupam a região intermediária entre saúde e doença podem apresentar tendência ao desenvolvimento tardio (Winnicott, 2005b). Desse modo, esse grupo pode ser considerado saudável, ainda que limitado no usufruir de um viver criativo.
Espaço transicional e amadurecimento pessoal
A criatividade advém das experiências transicionais logo no início da vida do bebê. Os objetos transicionais são criados na fronteira mãe-ambiente-bebê e, portanto, mantêm intacto o caráter da ilusão de que indivíduo é capaz de criar, como um demiurgo, o mundo em que vive (Winnicott, 1975).
A transicionalidade origina-se nas experiências de ilusão e de onipotência criativa do bebê que, a partir da apresentação de novos objetos por parte da mãe e do ambiente, deve paulatinamente ser capaz de compreender/aceitar o ambiente socialmente construído e que o precede. A transicionalidade constitui campo intermediário entre a realidade interna e externa, nela estão entrelaçados o ambiente socialmente construído e o mundo psíquico do bebê (Franco, 2003). As experiências dos objetos e dos fenômenos transicionais não devem ser contestadas pelo adulto (Winnicott, 1975), pois um ambiente razoavelmente estável é condição imprescindível para que a experiência da criatividade se instale e prospere.
Esse aspecto criativo relaciona-se com a atividade do brincar espontâneo: é no brincar que o indivíduo encontra a si mesmo, mas também é no brincar que a criança (ou o adulto) pode ser criativa e utilizar sua personalidade de modo integral (Fulgencio, 2011). Também é no brincar que o indivíduo reconhece que a vida vale a pena ser vivida, o que se dá pela via do verdadeiroself. Se, ao contrário, é o falsoselfque se estabelece como modo de ser e de se relacionar, o que predomina é uma sensação de inutilidade ou futilidade.
O lugar da família na teoria do amadurecimento pessoal
Ao cuidar das crianças e de seus pais, os equipamentos da RAPS devem considerar diferentes modalidades de arranjo familiar. No plano das relações de parentesco, “família é um conjunto de indivíduos aparentados, ligados entre si por aliança, casamento, filiação ou, excepcionalmente, por adoção (parentesco), vivendo sob um mesmo teto (coabitação)” (Bourdieu, 2008, p. 63). No plano das relações de sociabilidade, a família se institui cotidianamente como grupo por meio das “afeições obrigatórias e [das] obrigações afetivas do sentimento familiar (amor conjugal, amor paterno e materno, amor filial e amor fraterno)” (Bourdieu, 2008, p. 129).
No plano afetivo, as fantasias e posições simbólicas ocupadas pelos pais estão associadas à modalidade de arranjo familiar, segundo condições sócio-históricas e culturais específicas. As diferentes formas de ser família (nuclear, monoparental, ampliada, homoparental, entre outras), a natureza dos vínculos e da rede de apoio social devem ser contempladas pela RAPS. O desenvolvimento pessoal do bebê circunscreve-se ao ambiente sociocultural que o nomeia mesmo antes de sua vinda ao mundo, pois o perfilha nos arquivos da memória, da família, das diferenças de gênero e gerações. Tanto esse enquadre na casa como na clínica ampliada, no contexto da RAPS, são espaços de construção de fronteiras, que têm a função de proteger e dar contornos, assegurando um ambiente confiável e seguro para potencializar o crescimento.
A atenção devotada à criança por parte dos pais deve ser compreendida à luz do significado e do lugar que ela ocupa em suas fantasias inconscientes que estariam por trás dos motivos que levaram à sua concepção (Winnicott, 2005a). Tome-se como exemplo o caso de um filho que nasce após o falecimento de outro: ele ocupa o lugar de uma perda precoce, o que de certo modo o impede de aceder a um lugar próprio para existir. O mesmo ocorre quando um filho é gerado com intuito de tamponar as dificuldades de relacionamento do casal.
Ao destacar a importância do ambiente para o amadurecimento da criança, Winnicott afirma que as funções da família variam conforme cada momento do desenvolvimento. A família constitui o primeiro núcleo humano que propicia o desenvolvimento da criança, fornecendo-lhe proteção e sustentação conforme ocorre o incremento das exigências externas (Dias, 2017).
A família é o lugar privilegiado onde o indivíduo deve ser preparado para reconhecer e compreender a diferença, condição que exige a integração de aspectos agressivos e aceitação do ambiente externo como algo separado do self. Aquiescer e reconhecer a existência da separação entre self e realidade externa é um passo fundamental para a compreensão da diferença eu-outro que constitui a base da relação com a alteridade, aquisição necessária para o aprendizado da convivência com grupos com características socioculturais diferentes das insígnias identitárias (Dias, 2017).
O itinerário do crescimento pessoal caminha da intensa dependência, no início da vida, para a gradual e relativa autonomia ao longo da infância e da adolescência. A maturação física é importante para propiciar as condições emocionais, mas também importa o quanto as condições ambientais disponíveis estão adaptadas às necessidades de cada um (Winnicott, 2005a). Aos poucos, os cuidados fornecidos pela mãe tornam-se cuidados despendidos pelos pais e, depois, por avós, tios, primos, educadoras da educação infantil e professoras. Ao longo do desenvolvimento, os círculos de cuidado e convivência são alargados, ao mesmo tempo em que a criança necessita estar inserida em um contexto capaz de acolher suas contribuições/produções fruto de sua criatividade e de sua generosidade (Winnicott, 2005a). Cabe à família não apenas aplacar as demandas da criança e de seus impulsos instintivos, mas também estar aberta às suas contribuições criativas.
A inclusão dos pais no dispositivo de cuidado à criança
Conforme mencionado, a capacidade do ambiente se adaptar às necessidades da criança é um requisito importante para a constituição do self. Essa premissa sustenta, do ponto de vista técnico, a inclusão dos pais no dispositivo de cuidado à criança no contexto dos equipamentos de atenção básica ou psicossocial especializada integrantes da RAPS. As crianças não procuram atendimento por elas mesmas: serão sempre os pais, ou aqueles que se incumbem da função parental, que formulam uma queixa de que “algo não vai bem”, porque o filho não responde à determinada expectativa que se tem sobre ele. Essa queixa pode, ou não, se transformar em demanda de análise no decorrer do tempo.
A entrevista clínica inicial com os pais e com a criança constitui oportunidade para apreender a demanda da família ou do serviço que a encaminhou. Essa ocasião é propícia para fornecer um enquadre para a livre expressão dos pais, que proporciona o meio que o analista necessita para investigar suas fantasias a respeito da criança, seus modos de ser e de interagir com ela.
É importante identificar a motivação consciente/primária que levou à busca de atendimento para o filho, além da motivação inconsciente/genuína, manifestada em geral a partir de insights ou da intenção de experimentar conflitos, pensamentos e recordações a respeito de situações traumáticas. Deve-se identificar se os pais passam por alguma crise vital normativa (nascimento de outro filho, climatério, filhos que saem de casa, por exemplo) ou por crise acidental (desejo de separação conjugal, desemprego, doença grave em família, morte de familiares próximos); são fatores desencadeantes da procura de cuidado que podem refletir-se na queixa apresentada em relação à criança (Keidann & Dal Zot, 2015).
A criança chega ao analista levada pelas mãos do adulto que percebe manifestações de seu sofrimento. Cabe ao analista compreender qual a natureza do sofrimento que sustenta o sintoma. Na clínica infantil, nas primeiras entrevistas e no curso dos atendimentos, é importante escutar os pais, uma vez que a queixa trazida pelos adultos como justificativa para a busca do atendimento para a criança nem sempre traduz, de fato, a real fonte de sofrimento. Por exemplo, às vezes o conflito conjugal dos pais é, inconscientemente, deslocado para a criança. É preciso, portanto, enquadrar a análise, o que pressupõe: (a) colher a história da criança e situá-la em relação à dinâmica das relações familiares e ao discurso parental; (b) identificar o núcleo inconsciente do sofrimento em contraposição à atitude tradicional de formular um diagnóstico; (c) identificar a demanda de análise da criança, destacando-a da demanda dos pais de modo a desfazer o emaranhado de suas projeções no filho.
Clínica ampliada e cuidado à família: contribuições winnicottianas
O cuidado à família é um dos eixos dos serviços instituídos na atenção básica e psicossocial especializada no âmbito da RAPS.
A título de exemplo, estudo avaliou algumas dimensões de quatro CAPSi de Campinas-SP, tais como: acolhimento, cuidado dedicado à família, projeto terapêutico singular (PTS), integração com a rede de atenção básica à saúde e com a escola. O projeto terapêutico singular constitui instrumento fundamental para manejo do cuidado às crianças e aos adolescentes, pois denota a responsabilidade do CAPSi em relação aos serviços oferecidos segundo a singularidade de cada usuário. No que tange à reabilitação psicossocial, inserção na instituição escolar e no mercado de trabalho, no caso de adolescentes, são considerados indicadores de êxito do serviço, além de indicadores de adesão. A respeito do cuidado dedicado às famílias, considera-se importante o alinhamento do projeto terapêutico singular com pais e/ou responsáveis a fim de contemplar contextos de reabilitação psicossocial que não se restrinjam ao CAPSi, além do oferecimento de escuta ao grupo familiar (Bustamante et al., 2020).
Os diferentes equipamentos de atenção básica ou especializada que compõem a RAPS, podem prover sustentação ambiental/emocional às famílias. Do ponto de vista psicanalítico, a sustentação consiste no estabelecimento de vínculo capaz de facilitar a construção do setting, na medida em que o analista for capaz de conhecer as pessoas envolvidas, seus relacionamentos e a forma pela qual enfrentam seus problemas no cotidiano. Por outro lado, o próprio cuidado do profissional, por meio de postura interessada e acolhedora, age de forma interventiva na construção de vínculo com a comunidade, o que intensificará o poder das políticas instituídas pela RAPS.
A noção de clínica ampliada foi proposta por Gastão Wagner de Sousa Campos na década de 1990, passou a integrar os materiais oficiais do Ministério da Saúde na década seguinte em documentos sobre humanização e atenção básica (Curvo et al., 2018). A clínica ampliada inspira-se na metodologia Paideia como recurso para construção do Projeto Terapêutico entre profissionais e usuários do serviço de saúde tendo como princípio norteador a cogestão na assistência e no cuidado (Campos et al., 2014, p. 984). A metodologia Paideia objetiva amparar a cogestão entre os diferentes dispositivos/equipamentos de saúde a partir do apoio institucional (gestão compartilhada entre gerentes/trabalhadores e entre os serviços de saúde), apoio matricial (promoção e assistência à saúde no formato de rede a partir de ampla concepção do processo saúde-doença) e da clínica ampliada e compartilhada.
Considerando essas concepções, como aproximar a noção de clínica ampliada ao setting psicanalítico? Segundo Bairrão (2005), não importa tanto o lugar onde a psicanálise é exercida, mas, sobretudo, é a posição do analista, sua escuta, que depende da fala do sujeito e da transferência. Não cabe à Psicanálise afirmar, impor ou interpretar de antemão. Cabe ao analista propiciar condições para que o analisando escute a si próprio, “pouco valor tem o tratamento se o sujeito continuar sem fala própria. O que é tratar, se não devolver ao outro a dignidade de (se) dizer?” (Bairrão, 2005, p. 443).
No presente estudo, a noção de clínica ampliada, proposta por Campos, é articulada com os referenciais da psicanálise winnicottiana no âmbito da atenção básica e da atenção psicossocial especializada. Assim, o conceito de ambiente, na acepção winnicottiana, foi articulado com os marcos inovadores da atenção psicossocial e com a noção de clínica ampliada. Tanto a família quanto a clínica ampliada constituem espaços de construção de fronteiras e contornos que têm a função de proteger e potencializar o crescimento pessoal da criança.
A respeito da noção de ambiente, a clínica ampliada, fundamentada nas proposições winnicottianas, busca propiciar setting capaz de amparar, suportar e acolher as demandas específicas da criança, com intuito de promover sua autonomia. O setting analítico deve possibilitar que a criança apresente tanto as falhas (negligências) quanto os excessos (sufocamento) do ambiente/família, ou seja, tanto as insuficiências de provisão ambiental como os excessos e transbordamentos que comprometem seu desenvolvimento e as aquisições progressivas de seus graus de independência e espontaneidade (Angnes et al., 2013).
Cabe ao analista, juntamente com os demais profissionais da equipe multidisciplinar dos serviços de saúde, promover ambiente de confiança, segurança e constância. Essas condições devem estar presentes na capacidade de holding ou continência do analista, ou seja, a condição de estar com o outro e de provisionar ambiente seguro, contínuo e confiável para as experiências revividas pelo analisando.
No setting analítico – seja no enquadre da clínica tradicional, seja na moldura da clínica ampliada, redimensionada em diferentes e inovadores dispositivos institucionais e comunitários integrados à RAPS –, muitas vezes o presente retorna ao passado e à precariedade ambiental dos primeiros meses de vida, como assinala Winnicott em sua concepção do desenvolvimento emocional. É fundamental que o ambiente seja suficientemente estável e previsível para poder comportar os movimentos regressivos sem constrangimentos e intrusões que podem barrar o desenvolvimento da criança.
Independentemente do setting escolhido, a prática clínica exige uma ética do cuidado que contemple integralmente os distintos modos de configuração do sofrimento. Trata-se de ação de saúde e de ação terapêutica nas quais duas ou mais pessoas interagem em prol do alívio do sofrimento, segundo a orientação teórica e técnica de cada profissão (Figueiredo, 2007).
Não cabe ao analista impor sua presença, mas se dispor a estar ali, provendo continente ao conteúdo trazido pelo paciente, apoiando-o. É justamente neste espaço, livre e vazio, que o usuário do serviço de saúde terá oportunidade de configurar seu self e exercer sua condição de sonhar, alucinar, brincar e inventar, protegido pelo analista quando houver excesso de objetos ou de representações traumatizantes.
O lugar do brincar na clínica ampliada
Freud (1920/1996) apontou o brincar como recurso interpretativo, por exemplo, na célebre passagem na qual ele descreve a brincadeira de seu neto de 18 meses. No conhecido episódio do “jogo do carretel”, Freud relata o quanto a criança permanecia aparentemente absorta em um tipo de entretenimento muito singular. Ao brincar com um carretel, dizia “fort!” (ir) ao arremessá-lo para longe de sua visão, e “da!’ (aqui) ao recolher o barbante e recuperar o carretel que havia jogado. Assim, deduz Freud, a criança deixa a mãe se ausentar sem mergulhar em estado de desamparo. O menino se protegia do desamparo produzido pela ausência do objeto executando o manejo de um representante simbólico facilmente manipulável e ao alcance de suas mãos: o carretel e, sobretudo, ao associar os dois movimentos complementares (jogar e, em seguida, se reapropriar do objeto) a duas palavras: fort e da. Desse modo, usando a mediação de uma materialidade (o carretel e o cordão amarrado a ele), atrelada a um representante verbal, a criança aprende a ter domínio sobre seus estados emocionais geradores de desconforto.
Freud (1920/1996) flagra o brincar do seu netinho e deduz que ali se fixava, pela reiteração do movimento, uma operação psíquica de controle onipotente sobre a ansiedade produzida pela separação da mãe. Graças ao uso da criatividade primária, uma situação desagradável de desamparo havia se transmutado em oportunidade de obtenção de prazer. Esse recurso no plano simbólico propicia a condição para que o filho possa tolerar que a mãe se ausente por certo tempo para que, em um segundo momento, possa se regozijar ao se perceber dotado do poder mágico de trazê-la de volta para si. Ao teorizar sobre esse evento, Freud sublinha um aspecto crucial: a criança consegue preservar uma experiência de satisfação como resposta criativa frente ao desamparo a que estava submetida, e é tão bem-sucedida na tarefa que o faz sem mergulhar no desalento ou na ausência de perspectivas de agenciamento.
À luz de Winnicott, ressalta-se a importância de que esse movimento espontâneo possa ser repetido ad infinitum, sem interrupção ou intrusão do ambiente. O brincar pode ser utilizado não apenas na análise de crianças como também na dos adultos. No jogo do carretel vemos uma criança capaz de antecipar sua capacidade futura de se reinventar diante de situações adversas, invocando seu poder de transformar situações de tensão e dor em possibilidade de autogratificação.
Winnicott propõe que a análise se faz possível na sobreposição de duas áreas do brincar: a do analisando e a do analista. Como o brincar pode conter aspectos assustadores que suscitam medos e fantasias incomensuráveis, o analista deve observar – não no sentido de se colocar fora do campo, mas de implicar-se –, apoiar e sustentar a experiência emocional por meio do manejo do handling e do holding. Cultivar essa atitude clínica é fundamental a fim de que os aspectos assustadores não destruam a experiência criativa própria da brincadeira (Franco, 2003). O analista é guardião do setting e fiador dos processos que emergem do campo transicional.
A situação transferencial deve ser manejada pelo analista de modo semelhante ao que a mãe realiza em sua função de apresentar objetos, ou seja, apresentando a realidade de maneira gradual à criança, respeitando suas condições de apreender as porções e provisões (Safra, 2005). O analista apresenta as situações emergentes no campo transferencial, conforme a possibilidade do analisando em utilizá-las para alargar as fronteiras de contato com seu self (Risk & Santos, 2015).
Espaço transicional na clínica ampliada
O espaço transicional institui-se entre a realidade externa e a realidade subjetiva, enquanto campo de ilusão poroso e marcado pelas experiências do jogo, do brincar e do fantasiar. Nesta zona liminar, a criança constrói a realidade externa, manipulando-a, segundo suas demandas, a partir do sonho e das experiências de ilusão (Santos, 1999).
Na clínica ampliada winnicottiana potencializa-se o brincar como instrumento e estratégia de cuidado. Os encontros clínicos são oportunidades para propiciar condições para que a criança e seus pais explorem suas áreas de transicionalidade, criando espaço que os convide a brincar. O analista zela pela manutenção de setting espontâneo a partir do qual possa emergir o gesto criativo, facilitado por recursos gráficos, jogos e brinquedos. Utilizando os contornos protetores do espaço transicional, aos poucos se estabelece uma demanda de análise que, frequentemente, não emerge nas primeiras sessões; é preciso que o próprio trabalho de análise avance e propicie, paulatinamente, as condições para transformação da queixa-sintoma, trazida inicialmente, em pedido de análise.
Desde meados dos anos 1990 A Ser e Fazer, serviço de atendimento à comunidade vinculado ao Instituto de Psicologia da Universidade de São Paulo, desenvolve uma série de pesquisas/intervenções pautadas na psicanálise a partir de dispositivos/recursos mediadores que propiciam a expressividade do analisando em diferentes contextos clínicos (Aiello-Vaisberg, 2017). Os enquadramentos clínicos diferenciados, apresentados nas oficinas Ser e Fazer, assim como as consultas terapêuticas e o jogo do rabisco, são modelos fundantes para amparar a atitude clínico-investigativa do analista (Mencarelli et al., 2017).
Especialmente com a criança, o brincar como estratégia de cuidado fundamenta-se na construção de narrativas, não necessariamente com utilização da linguagem oral, mas envolvendo também brinquedos, dramatização, dança etc. (Zavaschi et al., 2015). Portanto, recursos com pouco ou nenhum grau de estruturação, tais como brinquedos, jogos, papel, lápis de cor, tinta guache, dobradura, massinha, recortes e colagem, são considerados dispositivos lúdicos favorecedores da expressão criativa. É importante incluir tanto os dispositivos livres – como desenhar livremente, rabiscar, contar histórias, fazer dobraduras, esculturas com argila, massa de modelar – quanto dispositivos que contêm algum grau de estruturação, como brinquedos e jogos.
Winnicott (1994) propunha o jogo do rabisco como meio de estabelecer o encontro clínico a partir do desenho. Propunha um jogo de traços e rabiscos, no qual cada um deveria se dedicar a finalizar o desenho que havia sido esboçado/rascunhado pelo outro. Com essa estratégia aparentemente simples era possível chegar, em poucos encontros, às falhas ambientais/pessoais de quem havia buscado ajuda. A criação/encontro desse núcleo no cerne da experiência compartilhada frequentemente era vivenciada pelo analisando como surpreendente. O potencial transformador estava contido na própria experiência compartilhada com o outro sob os contornos continentes do espaço transicional.
Como ilustração do potencial de uso desse método, Mencarelli e Aiello-Vaisberg (2005) narram experiência psicanalítica em enquadramento clínico diferenciado com adolescentes vivendo com o vírus HIV adquirido por transmissão vertical. As autoras referem que, em virtude dos desafios e especificidades do setting institucional, foram levadas a pensar em enquadre clínico que contemplasse o sofrimento existencial desses adolescentes, sujeitos a estados agônicos e estigmatizantes em decorrência do tratamento e das manifestações clínicas da AIDS. A experiência clínica foi inspirada pela psicanálise winnicottiana e utilizou a confecção de velas ornamentais como materialidade mediadora, isto é, como forma de estabelecer e sustentar o contato com os pacientes.
Além das materialidades mediadoras, outro dispositivo clínico interessante é a utilização da Narrativa Interativa, criada por Granato et al. (2011), como facilitador da expressão oral ou gráfica de conflitos. Essas narrativas podem ser utilizadas como recurso psicanalítico em contextos onde a psicoterapia de orientação psicanalítica de longa duração seria inviável ou contraindicada. As Narrativas Interativas (NI) foram criadas como recurso para investigação psicanalítica dirigida a adultos e crianças. Consistem em histórias fictícias criadas pelo analista que, a partir do objetivo de seu estudo e/ou intervenção, cria graficamente uma situação-conflito com a qual o participante se depara concretamente. Em outras palavras, o analista cria alguns quadrinhos em sequência – como se fossem uma pequena história de gibi, na qual o clímax ou desfecho fica a cargo do analisando, que deverá associar livremente de acordo com a solução que considera apropriada para a trama. No caso de crianças, utiliza-se a Narrativa Interativa a fim de que ela produza graficamente – ou oralmente – o desfecho da história, com o propósito de estabelecer contato lúdico com o conflito (Granato & Aiello-Vaisberg, 2016).
As estratégias anteriormente apresentadas fundamentam-se em atendimentos presenciais, embora possam servir como eixo para atendimentos remotos mediante adaptações, por exemplo, em virtude de surtos, epidemias ou pandemias ocasionadas por vírus respiratórios, a exemplo do SARS-CoV-2, causador da COVID-19 (Risk, 2021). Levando em conta os fundamentos da RAPS, os objetivos do serviço de saúde e considerando as diferentes modalidades de intervenção em psicanálise (Wallerstein, 2015), o analista pode privilegiar o brincar como estratégia terapêutica para o cuidado à criança e aos seus pais no contexto da clínica ampliada.
Considerações finais
Neste estudo, a noção de clínica ampliada, idealizada por Campos et al. (2014), foi articulada com referenciais de Winnicott e do estilo clínico Ser e Fazer (Aiello-Vaisberg, 2017). Nessa perspectiva, o cuidado provido pelo analista, nos diferentes eixos da atenção básica em saúde e da atenção psicossocial especializada, componentes da RAPS, evidencia que a clínica psicanalítica, em suas diferentes configurações, pode ser praticada no âmbito do SUS, rompendo vaticínios de que a psicanálise é um método elitista e restrito aos domínios do consultório particular. Para Winnicott, a provisão ambiental constitui importante recurso para o self, assim, sua teoria não está ancorada em visões individualizantes, muito pelo contrário. A pergunta que se coloca é: como expandir a escuta, o método e a técnica psicanalítica para contextos diferentes da clínica ambulatorial ou do consultório particular?
O referencial winnicottiano pode ser redimensionado e contextualizado em diferentes modelos de atuação/intervenção, inclusive na clínica extramuros e nos espaços comunitários. A noção de ambiente pode ser articulada com os marcos inovadores da atenção psicossocial, especialmente no que concerne às proposições inclusivas da clínica ampliada.
Na clínica ampliada winnicottiana, o brincar como estratégia de cuidado consiste em criar condições transicionais para que a criança e seus pais brinquem entre si e com o analista a partir de dispositivos gráficos (papel, tinta, lápis de cor, massinha de modelar), brinquedos e jogos. O analista, ao utilizar ativamente sua capacidade de holding, deve estimular o brincar e a criatividade tanto dos pais quanto da criança, a partir da noção de espaço transicional. No contexto da atenção básica em saúde e da atenção psicossocial especializada, esses contornos podem ser potencializados pela presença do analista, de modo que os recursos fortalecedores do verdadeiro self e do viver criativo possam ser criados/encontrados pelo analisando a partir do brincar, segundo as diretrizes de cada equipamento de saúde e conforme as variadas modalidades de intervenção em psicanálise.
Na construção da atenção à saúde, o profissional de psicologia pode articular com a equipe de referência as estratégias derivadas da teoria winnicottiana no atendimento interdisciplinar. Partindo da noção de clínica ampliada, os equipamentos de saúde e seus profissionais podem constituir espaço de construção de fronteiras e contornos que têm a função de proteger e de potencializar o desenvolvimento do self da criança. Em outras palavras, com apoio do psicólogo, nas reuniões de equipe, por exemplo, o cuidado despendido pelos diferentes profissionais de saúde, salvaguardadas suas especificidades, pode propiciar recursos para incrementar a provisão ambiental da criança e de sua família.
O cuidado dispensado às famílias, no escopo da RAPS, deve considerar as múltiplas e diferentes configurações familiares: nuclear, monoparental, ampliada, homoparental, dentre outras (Rosa et al., 2016; Souza-Santos & Santos, 2021). A respeito dessas famílias, o profissional de psicologia pode, por exemplo, discutir com a equipe de referência formas de acolhimento e cuidado, além de esclarecer sobre posicionamentos profissionais que podem ratificar preconceitos e estereótipos.
Além disso, a capacidade de holding do analista, ou seja, a condição de estar com o outro e de provisionar ambiente seguro, contínuo e confiável para as experiências revividas no setting, constitui recurso para simbolização e elaboração das falhas ambientais a que as famílias atendidas no âmbito da RAPS estão eventualmente submetidas, em virtude de exposição a situações de estresse crônico e vulnerabilidade social.
No que tange às limitações da presente proposta de intervenção/metodologia de trabalho, embora suas linhas gerais sejam amplas e adaptáveis aos serviços oferecidos tanto na atenção básica quanto na atenção psicossocial especializada, componentes da RAPS, diante de cada caso, o analista deve questionar se a criança e sua família irão se beneficiar desta modalidade de atendimento espontânea, livre e transicional. No caso de crianças cujos responsáveis apresentam relatos de violência doméstica, histórico de tentativa de suicídio, automutilação, ideação suicida proeminente, graves transtornos mentais ou que fazem uso problemático de álcool e outras substâncias psicoativas, deve-se analisar se, inicialmente, o grupo familiar irá se beneficiar da estratégia ora apresentada. Esses casos devem ser discutidos pela equipe de saúde e talvez, inicialmente, do ponto de vista psicoterapêutico, se beneficiem de modalidades de orientação, aconselhamento e apoio a partir de técnicas diretivas.
A partir do conjunto de estratégias apresentadas neste estudo, o analista pode tangenciar os contornos da experiência emocional verticalizada no encontro com as crianças e suas famílias. Com base nas estratégias anteriormente delineadas, espera-se que, vencidos os desafios e os momentos críticos colocados pela inserção no ambiente inicial, a criança possa gradualmente avançar no sentido de criar/encontrar o ambiente familiar e, mais tarde, se tudo correr relativamente bem, criar/encontrar o ambiente/sociedade, entrando em contato, inserindo-se e assumindo seu papel como agente ativo na produção da realidade compartilhada.

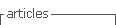










 Curriculum ScienTI
Curriculum ScienTI


