Serviços Personalizados
Journal
artigo
Indicadores
Compartilhar
Psicologia em Revista
versão impressa ISSN 1677-1168
Psicol. rev. (Belo Horizonte) v.14 n.2 Belo Horizonte dez. 2008
SEÇÃO ABERTA
Júlio Pinto **
Fraturas do linear e a cultura das redes*
(Ruptures of linearity and the net culture)
(Fracturas de lo lineal y la cultura de las redes)
Para falar de rede, vou necessariamente ter que passar por um desvio. Se não fizer isso, o assunto ficará meio banal, apenas informativo, no sentido de a rede é isso, a rede é aquilo. Gostaria, ao contrário, de propor uma reflexão mais global dos processos que nos trouxeram até a situação atual, sem ficar fazendo historiografia do pensamento. O que quero fazer é uma espécie de dinâmica dos fluidos. Isso necessariamente me fará incorrer em imprecisões de toda ordem, mas, acho, vai dar-nos uma idéia das grandes correntes. Naturalmente, nada que eu disser aqui constituirá novidade para vocês. A única vantagem do que eu disser será talvez didática: a reunião de manifestações aparentemente desconexas debaixo de um guarda-chuva conceitual único. Só para ajudar a pensar.
Parte do título desta fala se refere a fraturas da experiência do linear. Entendam, por favor, esse linear no sentido mais amplo possível, englobando a linha do passado para o futuro, da ação para a reação, de cima para baixo.
Quero começar com as ilusões de ótica. Naturalmente, elas já foram muito estudadas, haja vista a Gestalt, a partir de vários pontos de vista. Entretanto, o que nos interessa aqui é aquilo que elas trazem de fratura na ilusão de que vemos o que está lá fora. Elas evidenciam que há uma relação entre a memória e o ver e, o que é pior, nem sempre a memória que temos é do real (entendido como aquilo que está fora relativamente ao dentro de nós). Queremos o real, e o real tem que estar fora de nós: somos sujeitos para os objetos lá fora.
Sujeito aqui e objeto ali: essa postura intelectual nos vem desde quase sempre, passando por Descartes, pelo Iluminismo e pelo utilitarismo inglês. Por detrás, temos um paradigma milenar de organização verticalizada do mundo: sociedade, ciência, arte. Essa estrutura rigidamente hierárquica coloca o sujeito em posição sempre superior ao objeto e coloca a razão sempre em posição superior à sensação (já que a mente é superior ao corpo, etc., etc.)A elite é superiora porque a massa não pensa, e assim por diante.
Vejam, por exemplo, o panoptikon, proposto por Jeremy Bentham (1748-1832), filósofo inglês. Juntamente com Stuart e James Mill, Benthan difundiu o utilitarismo, teoria ética que responde a todas as questões acerca do que fazer, do que admirar e de como viver, em termos da maximização da utilidade e da felicidade. Conhecido também pela idealização do pan-otismo, que corresponde à observação total, a tomada integral da vida de um indivíduo por parte do poder disciplinador, ele, em 1789 (vejam só essa data), escreveu o Pan-óptico, que foi pensado como um projeto de prisão modelo para a reforma dos detentos. Mas, por vontade expressa do autor, foi também um plano exemplar para todas as instituições educacionais, de assistência e de trabalho, uma solução econômica para o esboço de uma sociedade racional. Não é necessário pensar muito para se perceber, por detrás da noção de útil, um autoritarismo essencial, porque o que é útil e racional é determinado por um pequeno grupo pensante.
É possível, inclusive, pensar as propostas de Qualidade Total contemporâneas, em suas diversas variedades – inclusive a reengenharia empresarial (tendo, por base, o princípio de rastreabilidade do erro – erro pensado como aquilo que não se encaixa na lógica preformatada), nessa filosofia da vigilância universal, com uma única diferença (bem cosmética, aliás) relativamente aos respectivos períodos históricos. Os pressupostos aqui são de onipotência, de maximização da consciência e a matematização da experiência. O princípio dominante é obviamente a teleologia sistêmica, quase um pensamento cibernético de primeira ordem avant la lettre, em que a visão paradigmática é a tendência rígida
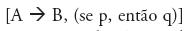
– perspectiva verticalizada da experiência (eu aqui de cima manipulo o objeto lá embaixo, sou sujeito para aquele objeto).
Nesse quadro conceitual, as imagens são potentes, para lembrar Virilio. Menciono as imagens aqui porque elas fazem parte da massa linguajeira que nos assalta contemporaneamente. As imagens são potentes porque se ligam ao paradigma da escrita, isto é, elas tendem a fixar sentidos de modo linear, à maneira da própria escrita. As nossas fotos de férias são potentes conforme reencontram para nós uma referência vivida. As imagens do fotojornalismo são potentes porque nos trazem um mundo por debaixo da convicção de que o fotógrafo esteve lá. A imagem potente tende para a revelação do objeto e se encaixa naquilo que poderíamos chamar de fetiche do real. Muito do cinema contemporâneo está nessa isotopia da potência da imagem referencial, anafórica, que nos traz o mundo, que nos lembra o vivido. A ideologia é a da especularidade, coisa, aliás, que as mídias fazem questão de martelar em nossas cabeças: nosso telejornalismo nos traz a verdade, veja a verdade que acontece no mundo, e assim por diante. Essa referência linear é vertical, num sentido metafórico.
Façamos outro percurso para mostrar algo muito parecido e manifestante dessa mesma verticalidade de que tenho falado. Nossa experiência contemporânea tem sido o controle. A palavra da moda é gestão (isto é, controle). Diz o presidente da empresa: Sei onde vamos, por isso, vou conduzir o barco para lá. Mas, daqui para a frente, talvez não seja mais assim. Tem havido vazamentos no controle devido a um processo de desverticalização da própria experiência. Vou explicar.
Para começar, é importante lembrar que toda ordem tem fraturas. As imagens potentes também têm impotências: elas, às vezes, jogam-nos para fora do objeto. Um exemplo talvez seja adequado neste momento. Lembro-me de O lanche do bebê, filme de poucos minutos dos irmãos Lumière (1895). A câmera fixa obriga nosso olhar a prender-se a uma mesa no centro do quadro em torno da qual adultos e bebê fazem o ritual alegre da alimentação do dito cujo. A mesa está situada no jardim da mansão dos Lumière. A ideia, naturalmente, era dirigir o olhar para o ato de alimentar o bebê. Mas um espectador viu outra coisa: o movimento das folhas das árvores ao fundo. E comentou isso. Isto é, a teleologia da imagem (o seu olhar deve ser para a mesa e os familiares do bebê) foi quebrada pelo olhar distraído de alguém, que achou as folhas mais interessantes que o lanche do bebê. O olhar distraído, que constitui o acaso ou o ruído relativamente à intenção do filme, revelou uma fresta, uma fratura da rigidez teleológica do olhar da câmera: uma impotência da imagem, uma intrusão estética que desviou o olhar dos sujeitos para outro objeto que não o predeterminado pela câmera.
Nesse lugar, a imagem perde sua indicialidade, o rastro de real que a câmera queria que fixássemos como sendo o real lá fora. A tendência rígida [P Q, (se p, então q)] acaba sendo perturbada pela tendência real (se p, então quem sabe q). Sair de P não garante chegar em Q. Incidentalmente, é bem isso que as ilusões de ótica fazem com a gente: a visão não garante o real porque o objeto está implicado em nós.
O curioso é que, na mesma época em que Bentham produz a ideia do panoptikon, surge algo que pode talvez ser pensado como uma fratura na couraça epistemológica do utilitarismo. Refiro-me a George Berkeley (1685-1753), filósofo irlandês. De seus escritos, dois livros nos são interessantes: Ensaio para uma nova teoria da visão (1709) e Tratado sobre os princípios do conhecimento humano (1710). Neste último, ele inclui sua máxima:
Esse percipi est (Ser é ser percebido), ser é ser imagem para o outro. Berkeley profetizou a situação do mundo contemporâneo, em que um novo regime de visibilidade, talvez causado pela invasão das tecnologias do digital, instaura o visível como o real.
Ser imagem para o outro significa a despolarização da relação entre sujeito e objeto. Na relação vertical, polarizada, temos a separação radical entre sujeito e objeto: eu o vejo. Nessa perspectiva de ser imagem para o outro, a relação é menos hierárquica, mais horizontal: eu o vejo me vendo (eu me vejo visto pelo outro). Vejo-me como existente a partir dos outros olhares. Foi mais ou menos com base nisso e, naturalmente, longos raciocínios que não cabe explicitar aqui, que eu disse agora mesmo que a cultura midiática contemporânea exacerba essa postura e chega a instaurar um novo regime de visibilidade.
Como modalidades de construção e organização do pensamento, os dispositivos midiáticos que possibilitam o ser-imagem encontram no espaço urbano o cenário de conexão generalizada, de disputas políticas e de práticas sociais emergentes, em que estar visível é condição primeira na lógica de midiatização da sociedade. Há quem diga, e Paul Virilio é um deles, que, na contemporaneidade, o predomínio é da imagem impotente, em sentido contrastante com a potência da imagem que resgata o vivido. Na perspectiva da impotência (pensada quase como a possibilidade do anteriormente não possível), não há resgate do vivido. Há a instauração de pseudovivências, em que o não-espelho finge que é espelho. O que há de menos real que um reality show? O que importa não é tanto a referência ao real, mas um efeito de real, para lembrar o velho Barthes.
O que presenciamos, com isso, é uma espécie de desverticalização do paradigma que está em curso, obra e graça, talvez, da comunicação – o espalhamento da informação, a forma essencialmente democrática com que as novas (não mais tão novas) tecnologias eletrônicas horizontalizam uma relação informativa. O modelo tradicional de transmissão tem sido vertical: a aula é dada pelo professor, e os alunos, lá embaixo, ouvem, e alunos e professores estão subordinados à diretoria; os programas são emitidos por uma central e enviados (broadcast) para a massa informe de espectadores ou ouvintes; os governos e a política funcionam de cima para baixo; as estruturas sociais são hierarquizadas, com a elite mandando e o povo obedecendo; os órgãos e agências de governo reportam-se ao governo central e se relacionam pouco entre si. Esse é um paradigma essencialmente da escrita, em que o eixo lógico se concentra na fixação dos sentidos. O texto é um sentido fixado. O sentido é função do autor etc. etc. Isto é, a relação é vertical e disciplinadora.
Entretanto, estamos começando a perceber, com um certo desconforto, que a pirâmide social está se achatando um pouco (não falo de dinheiro, falo de informação e de voz). Não se consegue mais, a rigor, impor uma censura total à informação. Existem os blogs, existem os canais individuais. O sujeito está começando a botar as manguinhas de fora. Melhor dizendo, quem sabe estamos diante de novas formas de subjetivação? Um dos pensadores a notar isso foi Gilles Lipvetsky. Em Os tempos hipermodernos, traduzido para o Brasil em 2004, ele já coloca o problema. Antes era o como chegar lá?, e esse lá já predefinido (o sucesso, o lucro, a vingança, o achatamento da competição), faltando definir a estratégia, isto é, o como chegar: sei que quero chegar em B. Se eu fizer tal e tal coisa, chegarei.
Agora, diz Lipovetsky, é diferente: para onde vou? Entre tantos destinos possíveis, qual escolherei? A experiência se horizontaliza e se deslineariza e conduz a multiplicidades muitas vezes contraditórias. Estamos na época das dietas, da magreza e da anorexia, mas também da obesidade e do sobrepeso. As pessoas têm medo de abrir a janela de seu carro no sinal de trânsito ao ir para o trabalho, mas se dedicam ao bungee-jump e outros esportes radicais no fim de semana. Jovens passam horas na academia de ginástica em nome da saúde corporal e depois, literalmente, acabam-se numa festa rave ou terminam a noite estraçalhados num poste depois de um racha com o carro do papai.
Estamos na época em que a guerra se horizontalizou: não são mais os estados em guerra um com um outro enfrentando-se, cada um do lado de uma faixa de terra de ninguém. Agora o terrorismo é a guerra, e a guerra se faz dentro dos estados e dentro das cidades do inimigo. O próprio Estado faz terrorismo.
As diferenças se diluem. Um médico italiano recentemente anunciou que a tendência para a humanidade é o ser humano andrógino, indiferenciado, quase hermafrodita.
A internet é espaço de e-mails indignados sobre questões éticas, cheio de correntes a favor disso ou contra aquilo, mas a rede é também lugar de pedofilia, violência e receitas domésticas para a fabricação de bombas. O próprio tempo está horizontalizando-se. Há uma evidente compressão da extensão linear passado-presente-futuro em favor do puro presente. Isso, aliás, ajuda a explicar a ênfase no gozo já, que desvincula a malhação na academia da festa rave.
A tendência rígida
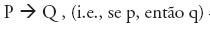
acaba sendo perturbada pela tendência real (se p, então quem sabe q). Sair de A não garante chegar em B.
Ilya Prigogine, químico russo (1917-2003), prêmio Nobel por sua teoria das estruturas dissipativas, cofundador do Centro para Sistemas
Quânticos Complexos, da Universidade do Texas, em Austin, escreveu textos fundamentais, entre os quais Entre o tempo e a eternidade e O fim das certezas. Em O fim das certezas, ele escreveu:
No mundo das estruturas múltiplas e das bifurcações, a situação é diferente do que era no mundo da ciência anterior. O real se torna quase um acidente, uma ilhota entre os possíveis, entre outras escolhas que poderiam se realizar. Não se trata de essas outras escolhas serem menos racionais; o real e o racional não mais se identificam, e o imaginário, o possível se encontram reabilitados no próprio coração da ciência.
A incerteza, é claro, exacerba o controle. Nunca se falou tanto em gestão. Há cursos de gestão disso, daquilo e daquiloutro. Até gestão da gestão. Sintomaticamente, estamos vivendo também uma cultura da vigilância (câmeras por todo lado, paranoia, o espelho retrovisor quando parado no sinal etc.).
É claro que as estruturas tradicionais têm agido reativamente a isso. É claro que surgem novos autoritarismos. É claro que, juntamente com a extrema liberdade que caracteriza certas sociedades, vem junto, às vezes convivendo na mesma sociedade, o fundamentalismo. É claro que surge a liberdade que os diversos softwares nos permitem, contanto que sigamos as ordens dos computadores.
Nesse estado de coisas, se a pirâmide vem se achatando, o velho edifício vertical vem cedendo, cada vez mais, a uma outra forma de organização. Um grande outro exemplo é a forma como a escrita vem sendo praticada hoje em dia. Do texto com princípio, meio e fim, texto paradigmático, vertical, tendente ao fechamento dos sentidos, lidamos agora com os hipertextos, teoricamente sem princípio e sem fim, e com as narrativas de autor múltiplo disponíveis na rede. Textos assimétricos, ambíguos e polissêmicos. Aliás, a imagem compete metro a metro com o texto e a imagem é sabidamente mais extensa, menos clara, mais produtora de sentidos múltiplos, já que ela envolve o desejo. A imagem é mais pathos que logos. A escrita é mais logos que pathos. Tudo isso em tese, naturalmente.
Curiosamente, até a percepção do conceito de multidão vem mudando. A multidão, tal como antes concebida (o próprio Freud pensa em termos da horda), é uma massa informe, sem identidade, pura sensação, pura desrazão. Hoje em dia, não se trata mais de qualquer um. Agora é um qualquer, não mais um anônimo sem rosto. Agora cada um tem seu nome, cada um recebe a correspondência do banco não mais como Prezado Cliente, mas como Prezada Maria José. O site do Banco do Brasil permite que você o adapte para ser o Banco do Fulano. O cinema documentário vem colocando isso em evidência também. Lembram-se do Edifício Máster, do Eduardo Coutinho?
É sempre bom lembrar que a velha hierarquia não perdeu o jogo ainda. Há uma disputa surda entre paradigmas. Volto à qualidade total. Ela, no seu aspecto exterior, vende-se como democrática, porque diz dar voz ao chão de fábrica e diz que empodera (verbinho feio esse) cada empregado, agora pomposamente chamado de colaborador, um colaborador que tem que continuar obedecendo ordens e recebe salário e pode muito bem ser despedido por qualquer coisinha.
Parênteses: tudo isso que venho descrevendo é prenunciado, pelo menos epistemologicamente, desde o fim do século XIX, por Peirce, com a semiótica, por Freud, por Einstein, todos, de uma certa maneira, arautos da indeterminação, ou por via da representação e da linguagem, por via do inconsciente ou por via da relatividade das leis da Física. Porque, não tenham dúvida, a indeterminação é a grande causa da fratura do linear. Segundo a semiótica, a referência dos signos não dá conta das coisas, está sempre aquém delas. Mas, ao mesmo tempo, todos os signos estão ligados a vários outros signos, porque nenhuma representação se sustenta sozinha. O que temos são redes de sentidos, em situações que o Bakhtin chama tão singela e corretamente de dialógicas.
De acordo com essa visão semiótica, o signo se liga a outro signo de tal forma que se refere a esse outro signo como objeto e produz outro signo que o interpreta. Esse encadeamento, junto com a ideia de que é impossível a existência de um signo autônomo e perfeitamente claro, faz com que todos estejam num esquema de relações em que a linguagem é cimento e em que eu sou sujeito agora e objeto daqui a pouco, referido agora e referidor daqui a pouco, emissor e receptor ao mesmo tempo, dependendo de com quem me relaciono. Em suma, minha relação com o outro é mais que nunca horizontalizada.
Nesse tipo de contexto, não posso me valer de hermenêuticas prefabricadas, que veem os fenômenos significativos de cima. Tenho que me valer de um jogo entre heurística e hermenêutica. Tenho que deixar os objetos me falarem para determinar minha metodologia de conhecimento. A própria ciência vem aprendendo isso. Já sabemos que os grandes achados científicos se dão nas tangentes entre disciplinas e nos conflitos entre elas, no chamado espaço interdisciplinar. Mesmo entre as ciências da cura, e talvez principalmente entre elas, a figura do especialista, apesar de ainda importante, vai perdendo lugar vis-à-vis as equipes multidisciplinares, já que a vida é multicausal, multiefetiva, multissignificativa. A vida vem sendo reconhecida como plural.
Essa é a rede, lugar abstrato em que nos situamos sempre em algum nó ou como um nó e nos linkamos às vezes de forma preordenada, às vezes de forma ad hoc. Assim, no mesmo plano de interação, estão a clínica de psicologia, o SUS, o sistema municipal, a instituição de ensino, os profissionais, os alunos, os pacientes, a mídia, a linguagem, a cultura, uns interferindo nos outros. Os links devem ser, às vezes, ad hoc, às vezes, formais. O difícil, naturalmente, é valer-se desses links de forma colaborativa e essencialmente produtiva. A grande metáfora é, aqui, obviamente, a rede mundial de computadores, chamada de Web 2.0: múltiplas entradas, múltiplos caminhos, múltiplas participações, múltiplos nós (nodes), múltiplos links, mas sem um fim definido. Mas não tenham dúvida. A internet, a www é metáfora que encontra muita analogia na nossa vida, digamos, atual, na nossa experiência do dia-a-dia. A nossa entrada na rede é pontual e acidental, do ponto de vista da própria rede (apesar de não sê-lo na nossa própria perspectiva). Mas ela é feita em igualdade de oportunidades com todos os demais participantes, apesar da assimetria participativa. Na verdade, essa rede é semiótico-material, isto é, ela envolve não só a presença de atores/agentes, mas as significações que os conectam. E essas redes são necessariamente precárias e instáveis.
Assim como na linguagem, os signos nunca dão conta das coisas a que se referem, e os sentidos ficam sempre incompletos, assim também, nas estruturações reticulares, não há exatamente uma conclusão. Uso o termo estruturação reticular de propósito, para diferenciar de estrutura. A estrutura é reflexo de um tipo de pensamento disjuntivo, muito útil em sua época, o estruturalismo, que nos ajudou a esmiuçar o mundo, mas que não nos ajudou a reconstituir o esmiuçado. Falo de estruturação reticular como um processo, algo sempre em andamento, com novas linkagens o tempo todo. Como essa linkagem aqui, aliás, que inclui alguém da Comunicação Social nos fazeres da Clínica de Psicologia. Pela qual sou muito agradecido.
*Conferência proferida na XVI Jornada da Clínica de Psicologia da PUC Minas: Tecendo redes, em 5 de maio de 2008.
**Ph.D., professor de Semiótica da Faculdade de Comunicação e Artes, coordenador do Programa de Pós-graduação Stricto Sensu em Comunicação Social da PUC Minas, e-mail: juliopinto@pucminas.br














