Serviços Personalizados
Journal
artigo
Indicadores
Compartilhar
Estudos e Pesquisas em Psicologia
versão On-line ISSN 1808-4281
Estud. pesqui. psicol. v.7 n.2 Rio de Janeiro dez. 2007
ARTIGOS
Diante de janelas: fronteiras entre público e privado na (pós)modernidade
Facing the windows: the boundaries between private and public and in (post)modernity
Giovanna Ferreira Dealtry *
Docente do Departamento de Comunicação Social da PUC-Rio
RESUMO
A imagem da janela e suas variações são utilizadas no presente artigo como caminho de discussão sobre as transformações entre as conceituações de público e privado, ocorridas desde o século XIX. A investigação sobre Edgar Allan Poe e João do Rio é determinante para entender a tensão que o sujeito surgido na modernidade sofre ao tentar preservar sua intimidade, ao mesmo tempo em que é chamado a participar das novas estruturas sociais. Literatura e leitura caminham no sentido de propor uma ordenação de um mundo cada vez mais caótico, prova disso é o nascimento do gênero policial em pleno século XIX. No entanto, as novas janelas que a contemporaneidade vê surgir, telas virtualizadas que ocupam papel central na comunicação pessoal e de massa, tornam necessário que investiguemos as novas configurações sobre a intimidade do sujeito e sua busca por segurança no espaço público. Nesse sentido, Rubem Fonseca e Luiz Ruffato surgem como nomes importantes no cenário da literatura brasileira e que denunciam em sua prosa o afastamento do homem e da cidade, vista, muitas vezes, como um texto indecifrável.
Palavras-chave: Literatura e cidade, Sujeito e modernidade, Comunicação virtualizada.
ABSTRACT
The image of a window and its variations are used in this article as a way to discuss the transformation of the concept of public and private that has taken place since the 19th Century. The investigation of Edgar Allan Poe and João do Rio is essential if one is to understand the tension that the individual born in modernity suffers as he/she tries to preserve his/her privacy while being asked to participate in new social structures. Literature and literacy advance in a way that offers order to a world that is increasingly more chaotic, and the birth of the crime novel in the 19th Century is proof of that. However, the new emerging present-day windows, virtual screens that have a central role in both personal and mass communication, make it necessary to investigate the new configurations of an individual’s privacy and his/her quest for security in the public space. In that sense, Rubem Fonseca and Luiz Ruffato appear as important names in Brazilian literature for their denunciation of the estrangement between the individual and the city, the latter seen as an undecipherable text.
Keywords: Literature and city, Individual and modernity, Virtual communication.
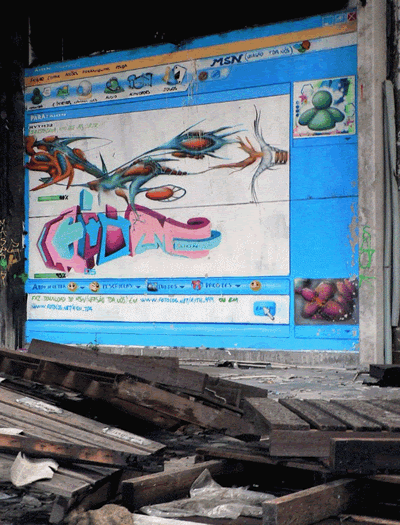
A imagem acima é um registro do trabalho da dupla de grafiteiros portugueses Aion e Ryth, na cidade de Vila Nova de Gaia.1 Para os pouco afeitos às tecnologias comunicacionais vale explicar: trata-se de uma reprodução de uma janela de conversação do windows messenger, possivelmente o programa mais utilizado em todo mundo para a troca de mensagens em tempo real na web. O que, a princípio, pertenceria à ordem do privado – a conversa - é transposto para a dimensão pública da cidade. A janela em espaço aberto, quase um trompe l`oeil, provoca justamente esse questionamento das fronteiras entre público e privado; virtual e real; escrita e imagem, em que o território físico e simbólico da cidade aparece como denominador comum.
A imagem da janela como intermediação entre a ordem do público e do privado aparece de maneira impactante em “O Homem das multidões”, de Edgar Allan Poe. Por trás da vidraça de um café, na Londres oitocentista, o narrador convalescente observa a correria de tipos urbanos na busca diária atrás de dinheiro. Nessa perspectiva, igualam-se caixeiros, pequenos funcionários, prostitutas, agiotas, ladrões de todas as espécies. O único motivo que, a princípio, leva estas multidões às ruas é a busca da sobrevivência na cidade moderna. Protegido por seu olhar envidraçado, o narrador se compraz em identificar os personagens da cidade pelas roupas, o semblante, o andar. Desfilam à sua frente como mercadorias em busca de seu comprador. A janela, que permite a visão e a categorização das “mercadorias”, também separa inapelavelmente o indivíduo que observa e deduz daquele sem tempo ou poder para isso.
No sentido proposto pela modernidade, a idéia de privado ganha novas nuances. Por certo, foi a ascensão da burguesia que notabilizou o lar e a privacidade como formas ideais de resguardar a intimidade do indivíduo. No entanto, os cafés no século XIX separam o indivíduo das massas ao mesmo tempo em que o transforma em um leitor da nascente modernidade. Como diz Richard Sennet, se aqueles que queriam circular dirigiam-se aos serviços mais rápidos dos bares, outros fregueses procuravam os cafés, justamente para ficarem “plantados ali, sem falarem com ninguém, ensimesmados, eles se limitavam a olhar a massa de passantes” (SENNET, 1994, p.278). A interioridade, por certo, é um ganho adquirido do individualismo que, em contrapartida, pode levar ao isolamento do corpo da própria urbe. “Mesmo nas ruas os transeuntes tornaram-se ciosos do direito de não sofrer a interpelação de estranhos; a conversa de um desconhecido foi encarada como uma violação” (SENNET, 1994, p.277).
Se, por um lado, as galerias, as multidões atraídas pelo comércio e trabalho, os parques, servem ao olhar apaixonado do flâneur que se sente em casa em meio ao movimento ondulante das ruas, por outro, nasce também nesse momento um novo tipo de sujeito que, por trás de sua janela, experimenta a interiorização sem perder de vista o movimento do mundo. A passividade de seu corpo, em que prevalece o sentido da visão e não do movimento físico, o diferencia do flâneur e o defende dos riscos e perigos trazidos pelo inesperado das ruas.
A crítica inaugurada por Poe à modernidade situa em campos opostos o ócio reflexivo e a alienação provocada pelo mundo do capital, mas também coloca como chave para compreensão da cidade a capacidade de ler. É a leitura, estabelecida através da observação criteriosa, que, no primeiro momento, assegura ao narrador a capacidade de classificar os tipos urbanos. No entanto, a leitura como forma exclusiva de compreensão da modernidade já é questionada desde o início do conto: “Houve quem dissesse muito judiciosamente de certo livro alemão:“Es lässt sich nicht lesen” (não se deixa ler). Do mesmo modo, há segredos que não se deixam revelar” (POE, 1988, p.57). Esta sentença toma forma quando o narrador depara-se com a figura do velho flâneur, que, tomado pela metrópole em constante movimento, percorre as ruas dia e noite sempre atrás das multidões. A incapacidade de classificar, de desvelar esse sujeito, faz com que o narrador o nomeie como gênio do crime perfeito e estabelece uma ruptura definitiva, na modernidade, entre o ato de ver e a capacidade de ler.
A superfície da visibilidade não assegura compreensão daquele que, mesmo visível por todos, ainda assim torna-se indecifrável e, portanto, só pode ser um criminoso. Em “O homem das multidões” são questionados os tradicionais parâmetros de leitura, insuficientes diante da nova cidade que se inaugura. Com isso, procura-se nomear dentro do terreno do monstruoso, do incompreensível, aqueles que são refratários à decifração pelo olhar. Em Poe, vemos que o problema de se viver nas grandes metrópoles situa-se menos na convivência com a diversidade de tipos, classes sociais e sujeitos inclusive marginais, e mais na ameaça velada de não conseguir “ler” o outro. A leitura, equivocadamente baseada apenas na visão, tende a fracassar diante do surgimento das massas. Já em 1798, um agente secreto parisiense afirmava: “É quase impossível (...) manter boa conduta numa população densamente massificada, onde cada um é, por assim dizer, desconhecido de todos os demais, e não precisa enrubescer diante de ninguém” (apud BENJAMIN, 1997, p.38).
A rua, portanto, não apenas se transforma nesse espaço do desconhecimento, do anonimato, do criminoso, como também adquire o sentido de alteridade em relação ao lar, local da simulada segurança do indivíduo. No conto de Rubem Fonseca, “O outro”, testemunhamos o desdobramento contemporâneo desse tipo de raciocínio e a instauração da dúvida sobre quem é realmente perigoso à sociedade. Quando a narrativa se inicia, acompanhamos o cotidiano de um executivo oprimido entre as tarefas do escritório e um pedinte que, diariamente, o interpela pelas ruas do centro da cidade do Rio de Janeiro. “- doutor, o senhor tem que me ajudar, não tenho ninguém no mundo". (FONSECA, 1996, p. 413). O que, a princípio, se configura como uma relação em que a esmola simboliza a compra da tranqüilidade, aos poucos, vai ganhando contornos persecutórios aos olhos do executivo. O que era súplica se transforma em ameaça, levando o protagonista a afastar-se do trabalho temporariamente. Em sua casa, nas ruas do seu bairro, ele retoma uma rotina que privilegia os cuidados físicos e emocionais; a ameaça, o outro, está fora dos seus percursos.
Como nos fala Ricardo Piglia, os relatos breves, mais do que os romances, estabelecem “essa noção de espera e de tensão rumo ao final secreto (...)” (2000, p. 98). Colocados no mesmo ângulo de visão do executivo, vemos avolumar a nossa frente o rosto ameaçador do “outro”, cabe apenas esperar pelo final trágico. No entanto,
A arte de narrar se baseia na leitura equivocada dos sinais. (...)
A arte de narrar é a arte da percepção errada e da distorção. O relato avança, segundo um plano férreo e incompreensível, e perto do final surge no horizonte a visão de uma realidade desconhecida: o final faz ver um sentido secreto que estava cifrado e como que ausente na sucessão clara dos fatos (PIGLIA, 2000, p.103).
Quando encontra o “marginal” nas ruas perto de sua casa, o homem de negócios vê-se diante do seu próprio limite de compreensão e deciframento. Volta à casa, pega sua arma, e mata o jovem descrito, à princípio, como forte, alto, ameaçador. No entanto, o tiro certeiro revela: “Ele caiu no chão, então vi que era um menino franzino, de espinhas no rosto e de uma palidez tão grande que nem mesmo o sangue, que foi cobrindo a sua face, conseguia esconder” (FONSECA, 1996, p. 414). A “leitura equivocada dos sinais” leva à morte de um inocente, a leitura equivocada dos sinais faz com que o próprio leitor se defronte com seus medos e preconceitos, com o que não está lá, no outro, mas dentro de si mesmo, como um sentido secreto e cifrado ao olhar estabelecido. A leitura do executivo mostra-se falha porque o que está sendo ameaçado não é supostamente a sua integridade física, mas é também seu direito à privacidade, a violação estabelecida pelas constantes reivindicações de um estranho. Diante da reversão das expectativas que os desdobramentos da narrativa parecem indicar, ficamos entre a perplexidade de perceber que o outro nada tinha de ameaçador e a certeza de que também nós, leitores, disparamos aquele tiro. A cidade moderna, entendida aqui como esse encontro com o “outro”, com o desconhecido, na verdade, também nos assusta porque não sabemos o que esperar de nós mesmos, de nossos atos e emoções em um espaço de diversidade e sem controle.
Vivemos hoje o desdobramento e a radicalização de certas questões herdadas do século XIX. E, de certa forma, ainda lidamos com os mesmos mecanismos de vigilância e controle das diferenças daquele momento. É nesse sentido que a narrativa – seja ela ficcional ou jornalística – adquire, na modernidade, uma função especial como elemento de mediação entre o sujeito e a cidade. A narrativa, muitas vezes, não somente representa a cidade, mas igualmente a apresenta a seus cidadãos. O perigo, pressentido nas ruas, nos meios de transporte, nas áreas sombrias da cidade, é corporificado pelas manchetes de jornais, que anunciam crimes misteriosos e assassinos à solta. Se o anonimato em meio às grandes metrópoles assegura a invisibilidade do possível criminoso, a ciência e a imprensa intentam classificar, indexar, controlar as tipologias características dos marginais. Assim os sistemas de classificação de Cesare Lombroso, no século XVIII, são expandidos e “aperfeiçoados” no século seguinte, sobretudo com a intenção de separar os indivíduos perigosos de alguma forma do restante da sociedade.
Os stigmata degenerationis, as marcas da natureza que o homo deliquens traz no corpo, constituem os signos mais visíveis de uma escritura gravada no corpo de todo o criminoso. A essência demoníaca da natureza. A antropologia criminal nasce, portanto, com a descoberta do selvagem, com a identificação do absolutamente estrangeiro. O reconhecimento fisionômico transforma o criminoso na personificação do outro (PEIXOTO, 2004, p.126).
Como vemos, a ficção inaugurada pela modernidade tem preocupações semelhantes às da ciência. No entanto, onde a ciência estabelece a certeza das medições, a literatura instaura a dúvida sobre a própria escrita e a leitura. Não é por acaso que o romance policial nasce no século XIX, tendo à frente Allan Poe e seu cerebral detetive Dupin. Em “Assassinatos da Rua Morgue” (1841), vemos presentes justamente dois dos mais importantes elementos da modernidade. Os jornais, de onde Dupin retira todas as informações para desvendar o assassinato brutal de duas senhoras, e a formulação do criminoso como “absolutamente estrangeiro”, a “personificação do outro”. Chocam-se ao longo do conto duas formulações sobre a cidade: a primeira, a cidade-mistério, espaço do crime; a segunda, a cidade capaz de ser decifrável através da leitura do observador/detetive.
Em “O homem das multidões”, o impasse que instaura igualmente o fim do conto e a incapacidade de através do olhar decifrar o coração do criminoso. Em “Assassinatos da Rua Morgue”, Poe dá um passo adiante, ao criar a figura do detetive que se utiliza, sobretudo, da capacidade dedutiva para resolver o enigma. Nesse contexto, a leitura não se confunde com as marcas visíveis do corpo do “outro”, como queriam os criminalistas da época.
A leitura, no caso de Dupin, opera justamente no campo do que não é explicitamente visível, mas no campo do erro, do equívoco. Na metrópole dominada por estrangeiros, as testemunhas do crime são um italiano, um francês, um holandês, um inglês e um espanhol. Todos ouviram os mesmos sons vindos da casa das senhoras na hora do assassinato. E todos se referem a essa voz como uma voz estrangeira. Diz Dupin:
Cada um deles a descreve, não como a voz de um indivíduo de qualquer nação em cuja linguagem seja fluente, mas justamente o oposto. O francês supôs que era a voz de um espanhol e declarou “que poderia ter distinguido algumas palavras se soubesse falar espanhol” (POE, 2002, p.119 – grifos no original).
Em “Assassinatos na Rua Morgue”, a voz comum elege o “outro”, aquele que não pertence à comunidade como o principal suspeito, ainda que as testemunhas não tenham como provar sua hipótese.
A idéia de que a suspeita é construída sobre o preconceito é trabalhada com muita eficácia pelo gênero. O primeiro suspeito é o outro social, aquele que pertence à minoria que rodeia o mundo branco, no interior do qual estão se desenvolvendo as versões paranóicas daquilo que a ameaça supõe (PIGLIA, 2006, p.82).
Poe encontra na imagem do gorila a personificação pura dessa voz estrangeira, o assassino que, de certo modo, corresponde às declarações das testemunhas, que não reconhecem em sua fala a voz do mesmo, mas que igualmente está fora da ordem usual das ameaças nas grandes cidades. Assim, a ordem pode ser facilmente restabelecida, pois este outro torna-se uma exceção que não pertence ao âmbito da convivência urbana.
Se o horror em Poe está na insegurança diante de um outro tão outro, tão distante que só poderia ser um animal, o horror no conto “O outro”, de Rubem Fonseca, está na insegurança diante de um eu tão outro, um outro tão próximo que nos espelha. No escritor brasileiro, as fronteiras entre vítima e criminoso se revertem, o terrível está em tomarmos consciência de que podemos estar em qualquer um dos lados. Em um mundo em que a ciência não mais é capaz de explicar as nuances da crueldade humana e que a permanência da ordem não está mais assegurada pela descoberta de uma verdade absoluta, a figura do detetive igualmente transforma-se - em muitos momentos, desaparece –, aproximando-se do homem comum, destituído de habilidades dedutivas superiores. Nos romances policiais contemporâneos, o detetive, por vezes, tateia pela cidade tanto quanto qualquer um de nós.2 Perdida a capacidade de identificar, ordenar, estipular significados precisos, esvai-se a segurança garantida pelo restabelecimento da verdade e da ordem e tornamos a nos deparar com a opacidade da cidade e seus habitantes
Janelas cerradas, telas virtuais
A imagem que abre esse artigo dialoga, primeiramente, com a modernidade, ao evocar uma janela temporal que se abre através do tempo. Porém, se a janela do windows messenger abre-se para o mundo, a ponto de nós a reconhecermos grafitada nos muros – públicos – da cidade, ela igualmente se abre para os sentidos contemporâneos da intimidade, estabelecendo telas de contato que revelam conversas, segredos, com um outro que pode ou não participar de nossa lista de contatos cotidianos e reais.3 Para compreender melhor essa questão, é preciso notar que a intimidade, como criada no lar burguês, transferiu-se não para outros territórios como as ruas ou os escritórios. Não são mais os espaços físicos da cidade que estabelecem as diferenças entre o privado e o público, mas as novas formas de aproximações sociais e o uso de novos mecanismos, em especial aqueles ligados diretamente a um consumo tecnológico, que criam fronteiras móveis entre os papéis públicos e as novas formas de subjetividade. A tela, pura imagem, grafitada em um espaço urbano, puro concreto, sintetiza o paradoxo em que vivemos: fora do tempo e do espaço formal podemos estabelecer novas imagens sobre nós e os outros; no tempo e no espaço somos convidados reiteradamente a participar do cotidiano de uma cidade que nos parece de uma escritura impenetrável.
Trata-se de investigar, à maneira de Poe, se a nova cidade, que incorpora a seu território físico partes dispersas e simbólicas, modifica as nossas formas de construção subjetiva ou se estas modificações prévias são justamente o fator que produz novos meios de se olhar o mundo. Se a escrita nos chats, e-mails ou blogs é modificada pelo suporte e produz, não só linguagens em códigos específicos da internet, como um predomínio de frases curtas, crônicas e mini-narrativas, é preciso igualmente não esquecer que, como os modernos do século XIX, o tempo e o espaço continuam a ser fatores determinantes na formalização dessa leitura. É necessário não somente se comunicar, mas estar “on-line”, receber informações transmitidas “ao vivo”, e atualizadas minuto a minuto. Para ter acesso a qualquer tipo de informação, não precisamos mais estar em casa ou no trabalho, mas existimos – também - agora em um novo espaço imaterial, sem coordenadas precisas que, nos definam a partir do lugar que, geograficamente, ocupamos.
Esse processo de comunicação virtualizada e os efeitos sobre o indivíduo já vinham sendo tratados pela literatura do início do século passado. João do Rio, em seu conto “O dia de um homem em 1920” (1910), mergulha justamente na angústia de um mundo dominado pela ânsia de acúmulo de capital e o conseqüente apagamento da afetividade do ser humano. O interessante dessa ficção científica é que ela focaliza não o trabalhador alienado e explorado, como em Metrópolis, de Fritz Lang, mas igualmente mostra as classes dominantes – o “homem superior” –, como vítima de um sistema que ele ajudou a criar. Presidente de cinqüenta companhias, intendente-geral da Compra de Propinas, chefe do jornal Eletro Rápido, que liga as principais capitais do planeta em agências colossais, o “homem superior”, sujeito não nomeado, recebe, minuto a minuto, informações através de fonógrafos, telegramas e mesmo dentro do “seu cupê aéreo que tem no vidro da frente, em reprodução cinematográfica, os últimos acontecimentos. São visões instantâneas” (RIO, 2005, p.96). É dessa maneira, por exemplo, enquanto está em trânsito, que ele é informado sobre o falecimento da própria filha, ao que responde de maneira igualmente telegráfica “Enterro primeira classe comunique mulher superior, Cortejo Carpideiras Elétricas” (RIO, 2005, p.97).
Na sociedade governada pela necessidade de produzir e consumir incessantemente, a escrita e a leitura caminham para a desaparição; os empregados não mais sabem escrever e ditam para as máquinas as notícias a serem reproduzidas mundo afora; os cinematógrafos funcionam em sessões contínuas e a morte surge como algo frívolo. Em um breve instante de lucidez, “o homem superior” conclui que “não é gente, é um aparelho”. Opõem-se em “Um dia na vida de um homem em 1920”, a pressa que alimenta os meios de locomoção e informação, a pressa de lucrar, aos resquícios de uma subjetividade perdida, dizimada juntamente com a reflexão trazida pela leitura.
Vivemos, portanto, nesse paradoxo elaborado pelas novas formas de comunicação virtualizada. Por um lado, as informações chegam a todos, possibilitando, teoricamente, uma aproximação maior. No entanto, carecemos de tempo e reflexão para efetivamente nos sentirmos parte de uma comunidade maior. Ou, de maneira mais prática, o que é possível fazer com a quantidade de informações não selecionadas que recebemos? Como afirma Baudrillard,
Em toda parte é suposto que a informação produz uma circulação acelerada do sentido, uma mais-valia de sentido homólogo à mais-valia econômica que provém da rotação acelerada do capital. A informação é dada como criadora de comunicação [...] Somos todos cúmplices deste mito. É o alfa e o ômega da nossa modernidade, sem o qual a credibilidade da nossa organização social se afundaria. Ora o fato é que ela se afunda, e por este mesmo motivo. Pois onde pensamos que a informação produz sentido, é o oposto que se verifica.[...] Assim a informação dissolve o sentido e dissolve o social numa espécie de nebulosa voltada, não de todo a um aumento de inovação mas, muito pelo contrário, à entropia total. Assim, os media são produtores não da socialização mas do seu contrário, da implosão do social nas massas (BAUDRILLARD, 1991, p.104-106).
A informação, ao chegar em excesso até nós, produzida somente como superfície, não estabelece mais sentido, ainda que guarde seu teor de espetáculo. Esta, por certo, é a nova etapa do capitalismo que transforma a informação em mercadoria de fácil aceitação e incessante câmbio. No entanto, desta tensão entre real e virtual emergem novas e complexas construções do indivíduo, a partir de uma comunicação que não se dá mais face a face. Aliás, a partir do que foi proposto na primeira parte deste artigo, seria útil nos perguntarmos o quanto o modo de vida nas grandes cidades capitalistas nos dessensibilizou para o contato com o “outro”, antes mesmo do surgimento de novas tecnologias que, aparentemente, nos prometem o distanciamento seguro.
Se, à semelhança dos indivíduos no século XIX, nos esmeramos em continuar evitando o contato com estranhos em público, preservando assim nossa privacidade, por outro lado, não nos furtamos em consumir revistas de fofocas, (auto)biografias ou programas televisivos, que revelem justamente a intimidade do outro. Nesse sentido, vale ressaltar que não somente a “celebridade” chama atenção. Cada vez mais vemos vidas anônimas despertando o interesse de grandes públicos, seja através do boom de programas de reality shows ou dos blogs, que se caracterizam justamente pela perspectiva híbrida entre público e privado.
Surgem daí novas questões: no momento em que um outro captura em sua tela de TV ou computador imagens e narrativas ligadas a aspectos íntimos do sujeito, essa suposta privacidade continua a existir “publicamente” ou desfaz-se no ar como um simulacro? Ou melhor, não será esta uma falsa dicotomia e, na verdade, estamos agora reelaborando novas fronteiras para estes termos? Assim, ao examinarmos o breve discurso do blogueiro Doug, naturalmente acostumado à velocidade da comunicação virtualizada, vemos como novas formas de subjetividade estão sendo construídas a partir da relação entre real e virtual.
Consigo desdobrar minha mente. Estou ficando perito nisso. Me vejo como duas, três ou mais pessoas. E limito-me a ligar uma parte de minha mente e depois outra, à medida que viajo de janela em janela. Estou tendo uma discussão qualquer numa das janelas e tento paquerar uma garota numa outra janela e, numa terceira, pode estar correndo uma folha de cálculo ou outra coisa técnica para a universidade...E de repente recebo uma mensagem em tempo real e calculo que isto seja a vida real. É só mais uma janela (TURKLE, S. apud SCHITTINE, 2004, p.58).
O interessante na análise do depoimento acima é que, mesmo diante da constatação da multiplicidade de ações e experiências compartilhadas no espaço da tela, o blogueiro ainda evoca, de forma talvez nostálgica, um certo sentido unificador do “real”. Como o narrador em “O homem da multidão”, que vê passar diante da vidraça uma série de personagens urbanos, o blogueiro Doug vê passar em sua tela as relações básicas de qualquer indivíduo na cidade contemporânea: amizade, namoro, trabalho, estudo. No entanto, essas experiências são definidas como “mais uma janela” que se opõem, como no narrador de Poe, a experiência vivida em algum lugar “lá fora”, distante de nossas telas.
Ainda que passemos boa parte do dia diante dessas janelas, tal atitude é desqualificada frente à “vida real”, frente ao que não conseguimos decifrar, nem conter com nosso olhar ou um toque do mouse. Obviamente, são reais – no sentido em que o real se opõe ao ilusório – todas as tarefas que cumprimos ou todas as relações interpessoais que alimentamos diante de nossas telas. No entanto, essas janelas – concretas ou virtuais – se colocam para o morador das cidades como um espaço em que é possível – agora, sim – de maneira ilusória resguardar-se do olhar do outro.
Simbólico, nesse sentido, são algumas das narrativas que constroem o romance Eles eram muitos cavalos (2001), de Luiz Ruffato sobre um dia na cidade de São Paulo. A estrutura narrativa, construída em forma de fragmentos, emula o movimento incessante da metrópole e registra, temporariamente, seus indivíduos anônimos. No fragmento abaixo, nomeado “Onde estávamos há cem anos?”, vemos como, à maneira das cidades oitocentistas, a relação indivíduo/cidade configura-se como uma das premissas básicas também na contemporaneidade.
Na esquina com a Rua Estados Unidos, o tráfego da Avenida Rebouças estancou de vês. Henrique afroxou a gravata, aumentou o volume do toca-cedê, Betty Carter ocupou todas as frinchas do Honda Civic estalando de novo, janelas cerradas, cidadela irresgatável, lá fora o mundo, calor, poluição, tensão, corre-corre. Meninos esfarrapados, imundos, escorrem água nos pára-brisas dos carros, limpa-nos com um pequeno rodo, estendem as mãozinhas esmoleres, giletes escondidas entre os dedos, arranjos de estiletes em buquê de flores, cacos de vidro em mangas de camisa. Meninas esfarrapadas, imundas, carregam bebês alugados esfarrapados, imundos, dependurados nas escadeiras, inocentes coxas à mostra, cabelos presos em sonhos vaporosos. Mocinhas vestidas de torcida-organizada-de-futebol-americano espalham folders de lançamentos imobiliários. Rapazes encorpados vestidos de jogador-de-time-de-basquete-americano exibem revólveres sob um outdoor São Paulo-Miami Non Stop, que encobre um pequeno prédio abandonado, onde gatos e crianças remelentos dormem ignorando a tarde que se oferece lúbrica (RUFFATO, 2001, p.81).
Em Ruffato, as “janelas cerradas” marcam a fronteira nítida entre a cidadela e o mundo lá fora, nem mesmo a mediação trazida pelo olhar é mais possível. Henrique simula com suas atitudes – a gravata afrouxada, a fruição musical – a chegada de um trabalhador à sua casa, só que agora a casa/cidadela adquire o espaço de um carro, objeto símbolo não só do capitalismo, mas de um individualismo que torna invisível o mundo das meninas e meninos esfarrapados. Diante das ameaças da cidade, do excesso de violência, miséria e estímulo ao consumo, Henrique volta-se para as próprias memórias no anseio de recontar para si próprio sua origem, seu passado. Lembra-se da viagem à Itália, terra do avô, rememora as histórias pessoais de seus antepassados em uma genealogia imaginária que dura o intervalo de um sinal fechado. Contrapõe-se às lembranças de Henrique à falta de identidade daqueles meninos e meninas que não tem nome ou memórias, mas que cercam a cidadela, durante poucos minutos, para esmolar, roubar, vender. À primeira vista, o direito à subjetividade, ainda que precária, parece ser um privilégio dos que detém poder econômico, mas em Ruffato nada é tão óbvio assim.
No fragmento “O ‘crânio’”, o narrador, “moreno puxado pro mulato baixo e faltando dentes”, discorre sobre sua admiração pelo irmão apelidado de “crânio”, “o sujeito mais que esquisito mas por isso mesmo o mais querido” (RUFFATO, 2001, p.98). Esquisito porque não fuma nem cheira, porque rejeita prostitutas, mas sobretudo porque
passa o dia inteiro lendo e comendo que fala são seus vícios
lê tudo o que aparece e de tudo come
traz sempre à vista numa caixa de sapatos vazia
removedor gilete pano de pó cola tenaz papelão
pega um livro todo dismilingüido
faltando capa emporcalhado semimorto
transforma em outro quase novo
parece um médico de PS
ele é o cão ele é danado (RUFFATO, 2001, p.99).
No espaço dominado pela criminalidade e violência policial, em que o próprio narrador surge como ladrão, traficante e assassino, a figura do “crânio” destoa por fazer da leitura um contraponto crítico capaz de perceber o quadro maior da sociedade, em que são “os bacana da mansão do morumbi/que controla de verdade a muamba.” A leitura e a escrita aparecem não apenas como meio formativo, mas como afeto, lugar singular e único. Quando o irmão diz que ele podia mostrar seus cadernos para os manos do rap, o “crânio” é taxativo: “minha poesia não é para cantar é pra ler”. Enquanto a música do rap de forma politizada norteia as críticas da periferia, a poesia pra ser lida privilegia a visão introspectiva, o silêncio, foca no que há de mais íntimo. À primeira vista, poderíamos aproximar o papel que a leitura exerce na vida de “crânio” com o lugar da memória em Henrique, pois ambas privilegiariam um olhar interiorizado em contraponto aos espaços comunais. No entanto, é da elaboração da leitura como negociação constante com o “lá fora”, e não meramente como referência subjetiva, que o personagem “crânio” consegue vislumbrar além. As “janelas cerradas” da contemporaneidade, privadas de sua capacidade de mediação, asseguram ilusoriamente a proteção do indivíduo. No território marginalizado, no entanto, a violência chega na forma de policiais, que humilham o exemplo da comunidade: “depois jogaram ele no camburão e sumiram/por essa São Paulo tão comprida/encheram ele de porrada torturaram”.
Entre as janelas cerradas e as telas virtualizadas, o sujeito contemporâneo exercita as novas articulações entre público e privado e igualmente reivindica para si o direito à construção de novos olhares sobre a cidade, a partir do solitário exercício da leitura. Essas novas ordenações estão sendo feitas agora em espaços urbanos extremamente desiguais, como nos mostram a prosa de Ruffato. Saber qual o papel que a leitura, e igualmente a literatura, terá nesse processo é acompanhar este longo e tortuoso percurso de ligação entre o indivíduo e a cidade.
Referências Bibliográficas
BAUDRILLARD, J. Simulacros e Simulação. Lisboa: Relógio D’Água Editores, 1991. [ Links ]
BENJAMIN, W. Charles Baudelaire – um lírico no auge do capitalismo. São Paulo: Ed. Brasiliense, 1997. [ Links ]
FONSECA, R. “O outro”. In: ____. Contos reunidos. São Paulo: Companhia das Letras, 1996. p. 411-414. [ Links ]
LÉVY, Pierre. O que é o virtual? São Paulo: Editora 34, 1996. [ Links ]
PEIXOTO, N.B. Cenários em ruínas. 3 ed. São Paulo: Senac Editora, 2004. [ Links ]
PIGLIA, R. Formas Breves. São Paulo: Companhia das Letras, 2000. [ Links ]
_______. O último leitor. São Paulo: Companhia das Letras, 2006. [ Links ]
POE. E. A. O homem das multidões. In: ____ Histórias Extraordinárias. São Paulo: Clube do livro, 1988. p.57 –70. [ Links ]
_______. Assassinatos na Rua Morgue. Porto Alegre: LP&M, 2002.
RIO, J. do. O dia de um homem em 1920. In: GOMES, R.C. João do Rio por Renato Cordeiro Gomes. Coleção Nossos Clássicos. Rio de Janeiro: Agir, 2005. p. 94-99. [ Links ]
RUFFATO, L. Eles eram muitos cavalos. São Paulo: Boitempo, 2001. [ Links ]
SCHITTINE. D. Blog: comunicação e escrita íntima na internet. Rio de Janeiro: Civilização Brasileira, 2004. [ Links ]
SENNET, R. Carne e Pedra. Rio de Janeiro: Record,1994. [ Links ]
 Endereço para correspondência
Endereço para correspondência
E-mail:giovannadealtry@terra.com.br
Recebido em: 28/02/2007
Aceito para publicação em: 02/07/2007
Notas
* Doutora em Letras pela PUC-Rio.
1 Disponível em: http://dedonogatilho.blogspot.com/2006_12_01_archive.html. Último acesso em 24 de fevereiro de 2007.
2 Para análise das transformações do policial de enigma para o noir ver Piglia.
3 Para uma discussão sobre virtual e real ver Baudrillard (1991) e Lévy (1996). Baudrillard estabelece um sentido de virtual que se opõe ao real. A comunicação virtualizada produziria a desertificação do real e a perda do sentido da experiência. Levy nega essa oposição entre real e virtual e afirma que o virtual já estava presente no próprio processo da leitura (imaginação) e que a comunicação virtualizada inaugura novas possibilidades criativas do sujeito.














